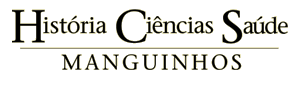Abril/2025
Vivian Mannheimer | Blog de HCS-Manguinhos

Marcos Cueto. Foto de Vitor Vogel (COC/Fiocruz)
Assim que tomou posse em 20 de janeiro, um dos primeiros anúncios do presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi que ele deixaria a Organização Mundial de Saúde (OMS). Para analisar as consequências dessa retirada, conversamos com o historiador Marcos Cueto, pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e editor científico da revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos.
O historiador é um dos autores, junto com os pesquisadores Ted Brown e Elizabeth Fee, do livro The World Health Organization – A History, que examina a história da OMS e campanhas da organização, como os primeiros programas de erradicação da malária e da varíola, a resposta à Aids e a luta contra o Ebola.
Nesta entrevista, Cueto analisa, em uma perspectiva histórica, a relação entre os Estados Unidos e a organização e as mudanças ideológicas que influenciaram as políticas de saúde. De acordo com o pesquisador, com a retirada, os Estados Unidos não farão mais parte das discussões sobre quais cepas de gripe e Covid-19 devem ser usadas para as vacinas anuais; terão acesso tardio a dados sobre os vírus que ameaçam o planeta; e ficarão de fora das discussões em andamento a respeito de um tratado internacional sobre pandemias, que facilitaria o compartilhamento de vacinas, testes e outros suprimentos médicos.
Ele destacou ainda, que, caso a retirada se confirme, será essencial um compromisso mais profundo com a OMS por parte de outros governos, bem como o apoio do setor privado, da filantropia e, sobretudo, das economias emergentes dispostas a redefinir a governança sanitária global.
O que significa a retirada dos Estados Unidos da OMS?
A retirada unilateral dos Estados Unidos significa a suspensão da transferência de fundos para a OMS e a saída dos funcionários norte-americanos designados para a organização. Como aponta Deisy Ventura (2025), embora a OMS não seja perfeita, é uma instituição essencial e passível de reforma. É importante notar que os Estados Unidos aderiram à OMS em 1948 por meio de uma resolução do Congresso norte-americano, que estabelecia que, em caso de saída, o país deveria notificá-la com um ano de antecedência e cumprir com suas obrigações financeiras durante esse período (algo que parece que não será cumprido). Com a retirada, os Estados Unidos não farão mais parte das discussões sobre quais cepas de gripe e Covid-19 devem ser usadas para as vacinas anuais; terão acesso tardio a dados sobre os vírus que ameaçam o planeta; e enfrentarão um desgaste no diálogo com mais de setenta centros colaboradores da OMS que operam nos Estados Unidos (em áreas como enfermagem, saúde ambiental e farmacologia, entre outras).
Além disso, a decisão exclui os Estados Unidos do Regulamento Sanitário Internacional — as normas que buscam padronizar as respostas às emergências sanitárias e cuja origem remonta a 1851 —, que inclui a obrigação de um país de informar sobre um surto epidêmico, a padronização de quarentenas e os critérios para declarar uma pandemia. Da mesma forma, o país ficaria de fora das discussões em andamento a respeito de um tratado internacional sobre pandemias, que facilitaria o compartilhamento de vacinas, testes e outros suprimentos médicos.
Como resultado, não apenas é previsível o atraso dos programas de vacinação infantil em várias partes do mundo e o surgimento de uma diversidade confusa de tratamentos e protocolos clínicos, mas também uma postergação indefinida dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU), que pretendiam garantir boa saúde para os mais pobres até 2030. Isso poderia levar ao esquecimento de projetos holísticos, como o fortalecimento de sistemas integrais de saúde, os Determinantes Sociais da Saúde e a Atenção Primária à Saúde.
Quando a relação da OMS com os Estados Unidos começou a mudar?
Tradicionalmente, o financiamento da OMS dependia das contribuições regulares dos Estados-membros, calculadas com base na riqueza e na população de cada país (os Estados Unidos contribuíam significativamente mais do que nações menores, como as ilhas do Caribe). No entanto, durante a presidência de Ronald Reagan (1981-1989), surgiram questionamentos sobre esse modelo. Reagan considerava injusto que seu país financiasse mais de 25% do orçamento da OMS enquanto tinha apenas um voto na Assembleia Mundial da Saúde – órgão supremo de decisão da OMS, que se reúne anualmente em Genebra, com a presença de delegações dos Estados-membros. A posição de Regan também refletia a ideologia neoliberal, que promoveu a redução do papel das instituições governamentais e intergovernamentais.
Desde os anos 1990, as contribuições regulares dos Estados Unidos começaram a estagnar ou atrasar, com aumentos pouco frequentes. A OMS passou a depender de doações direcionadas para objetivos específicos, geralmente, voltadas para programas verticais contra doenças, o que significava que esses fundos não faziam parte do orçamento regular da organização. Essas doações vinham de fundações privadas, de países como Japão, Alemanha e China e, em grande medida, dos próprios Estados Unidos. Assim, consolidou-se um orçamento paralelo baseado nesses aportes condicionados.
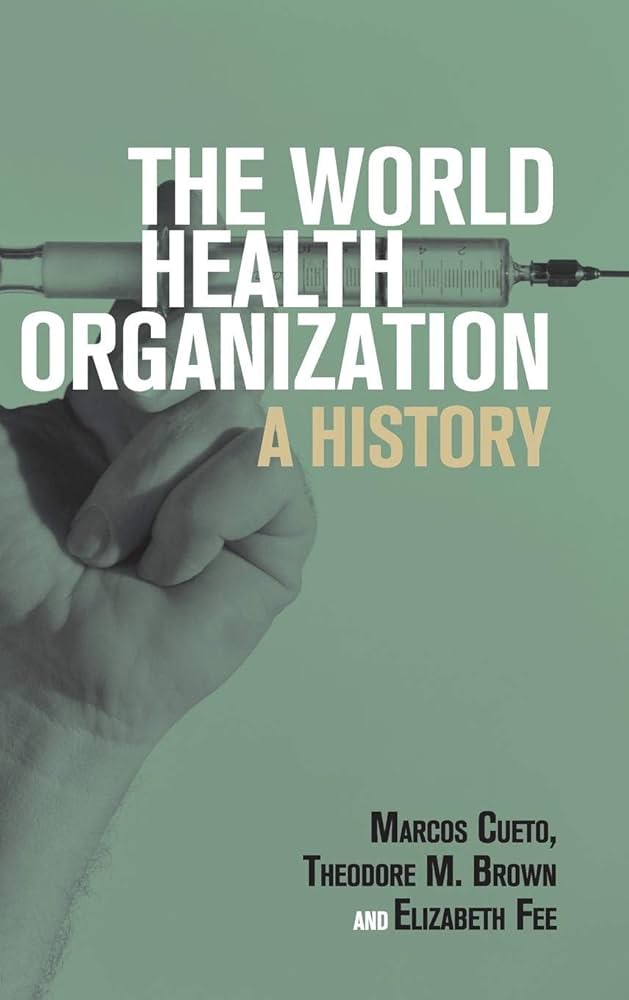
Capa do livro The World Health Organization – A History
Ao mesmo tempo, os países doadores mais ricos fortaleceram suas próprias agências bilaterais de saúde, cujos orçamentos ultrapassavam amplamente o da OMS. Hoje em dia, aproximadamente 80% do financiamento da organização vêm desse orçamento paralelo. Esse modelo gerou um debate sobre a capacidade da OMS de estabelecer prioridades estratégicas e desenvolver programas integrais, como mostra o livro que escrevi com o professor Theodore M. Brown e a historiadora Elizabeth Fee: The World Health Organization – A History.
Em 2017, a OMS viveu um momento histórico com a eleição de Tedros Adhanom Ghebreyesus como seu primeiro diretor-geral africano. Defensor da Atenção Primária à Saúde, ele tinha uma abordagem que contrastava com a preferência dos Estados Unidos por programas focados em doenças específicas. Além disso, pela primeira vez, a Assembleia da OMS, composta por 194 membros, realizou uma votação secreta, deixando para trás o sistema anterior em que 34 integrantes do Conselho Executivo escolhiam o diretor-geral em um processo pouco transparente.
A expressiva margem de vitória de Tedros (133 votos contra 50 de David Nabarro, candidato do Reino Unido) evidenciou um forte apoio do Sul Global e um repúdio à interferência das grandes potências na agência, que frequentemente ignoravam as prioridades dos países em desenvolvimento. É razoável supor que, se um diretor mais alinhado com as tendências neoliberais ou um sanitarista europeu tivesse sido eleito, a administração Trump poderia ter reconsiderado sua decisão de se retirar da OMS.
Quais podem ser as consequências de médio e longo prazo dessa saída?
Um ataque contra os princípios de solidariedade internacional, contra o acesso universal à saúde e a medicamentos essenciais e contra a concepção da saúde como um direito humano e seu papel no desenvolvimento dos países mais pobres. Representa uma versão ainda mais agressiva do neoliberalismo, superando o dos anos 1990 e início do século 21, quando líderes como Bill Clinton e George W. Bush ainda promoviam alianças entre o Estado e a sociedade civil, apoiavam a assistência a países em crise sanitária e reconheciam a necessidade de uma governança global da saúde.
Nesta nova fase autoritária do neoliberalismo, agora fundida com o ultranacionalismo e com traços de fascismo, as desigualdades na saúde, tanto entre países quanto dentro deles, são assumidas como uma realidade inevitável, e culpa-se as vítimas — doentes, minorias sexuais e países pobres — por futuras epidemias.
Além disso, esse modelo parece orientado para consolidar uma “cultura da sobrevivência” nos países em desenvolvimento, onde as intervenções, mesmo assistenciais e paliativas, exigem em troca obediência e alinhamento com o poder dos Estados Unidos, e a saúde pública é reduzida a uma dádiva dos mais poderosos para os mais vulneráveis, conceito que desenvolvo no meu livro com Steven Palmer, Medicina e Saúde Pública na América Latina: Uma História, publicada pela Editora Fiocruz em 2016.
O que é possível ser feito para reduzir o impacto dessa saída para a saúde global?
Será essencial um compromisso mais profundo com a OMS por parte de outros governos de países industrializados não alinhados com os Estados Unidos, bem como o apoio do setor privado, da filantropia e, sobretudo, das economias emergentes dispostas a redefinir a governança sanitária global.
Outros atores institucionais da saúde global, como o Unaids e o Fundo Global para a luta contra a Aids, tuberculose e malária, devem sair em defesa da OMS e não se intimidar. Da mesma forma, é crucial a participação ativa dos países em desenvolvimento, muitos dos quais ainda não reconhecem plenamente a importância da saúde global.
Um exemplo claro dessa ausência é que poucos países latino-americanos possuem um centro de estudos de saúde global similar ao da Fiocruz, no Brasil. Esses países poderiam fortalecer suas redes de cooperação sul-sul, garantir respostas inclusivas que abordem as fragilidades estruturais de seus sistemas de saúde e aumentar sua capacidade de negociação como bloco, especialmente diante da provável incursão da China como aspirante à liderança na saúde internacional.
Não seria a primeira vez que uma organização de saúde internacional opera sem a participação dos Estados Unidos. Entre 1919 e 1939, a Organização de Higiene da Liga das Nações funcionou sem a adesão norte-americana, apesar do apoio do presidente Woodrow Wilson, que não conseguiu convencer o Congresso norte-americano a aprovar a participação do país. Nessa organização, o Brasil teve um papel destacado, com representantes como Carlos Chagas. Além de implementar valiosos programas sanitários, essa instituição tornou-se um espaço fundamental de reflexão sobre a medicina social. De fato, foi a partir desse debate que surgiu a célebre formulação do preâmbulo da Constituição da OMS: a saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas um estado de completo bem-estar físico, social e mental.
A saúde global poderá sobreviver a um segundo mandato de Trump?
Esperamos que sim.
Fonte: Site da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz
Leia também:
Alguns insights sobre a reeleição de Trump
 Nesta entrevista ao Blog de HCS-Manguinhos, Ted Brown, professor emérito de história e ciências da saúde pública na Universidade de Rochester, investiga as profundas implicações da eleição presidencial dos EUA de 2024.
Nesta entrevista ao Blog de HCS-Manguinhos, Ted Brown, professor emérito de história e ciências da saúde pública na Universidade de Rochester, investiga as profundas implicações da eleição presidencial dos EUA de 2024.Leia na revista HCS-Manguinhos:
Brown, Theodore M., Cueto, Marcos e Fee, Elizabeth. A transição de saúde pública ‘internacional’ para ‘global’ e a Organização Mundial da Saúde. Set 2006, vol.13, no.3
Cueto, Marcos e Hochman, Gilberto, Apresentação – Dossiê Saúde Internacional/Saúde Global, (v. 22, n. 1, mar 2015)