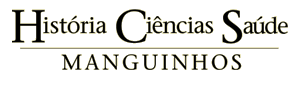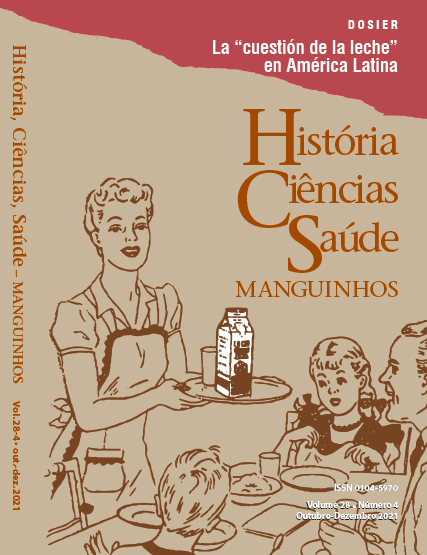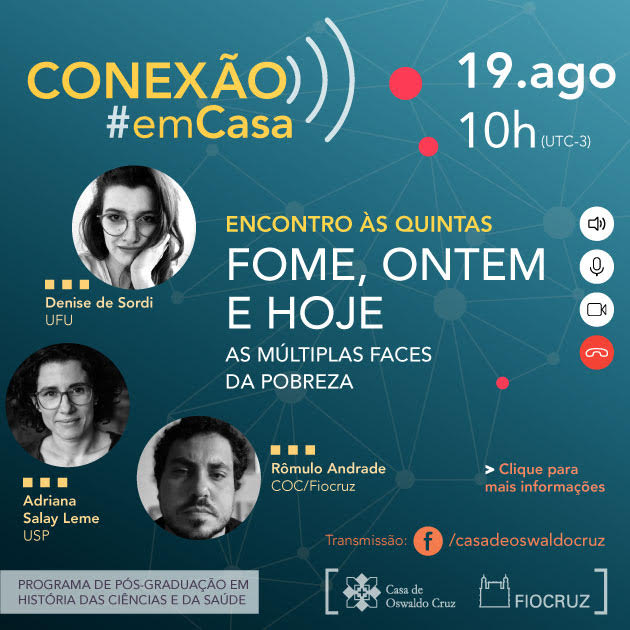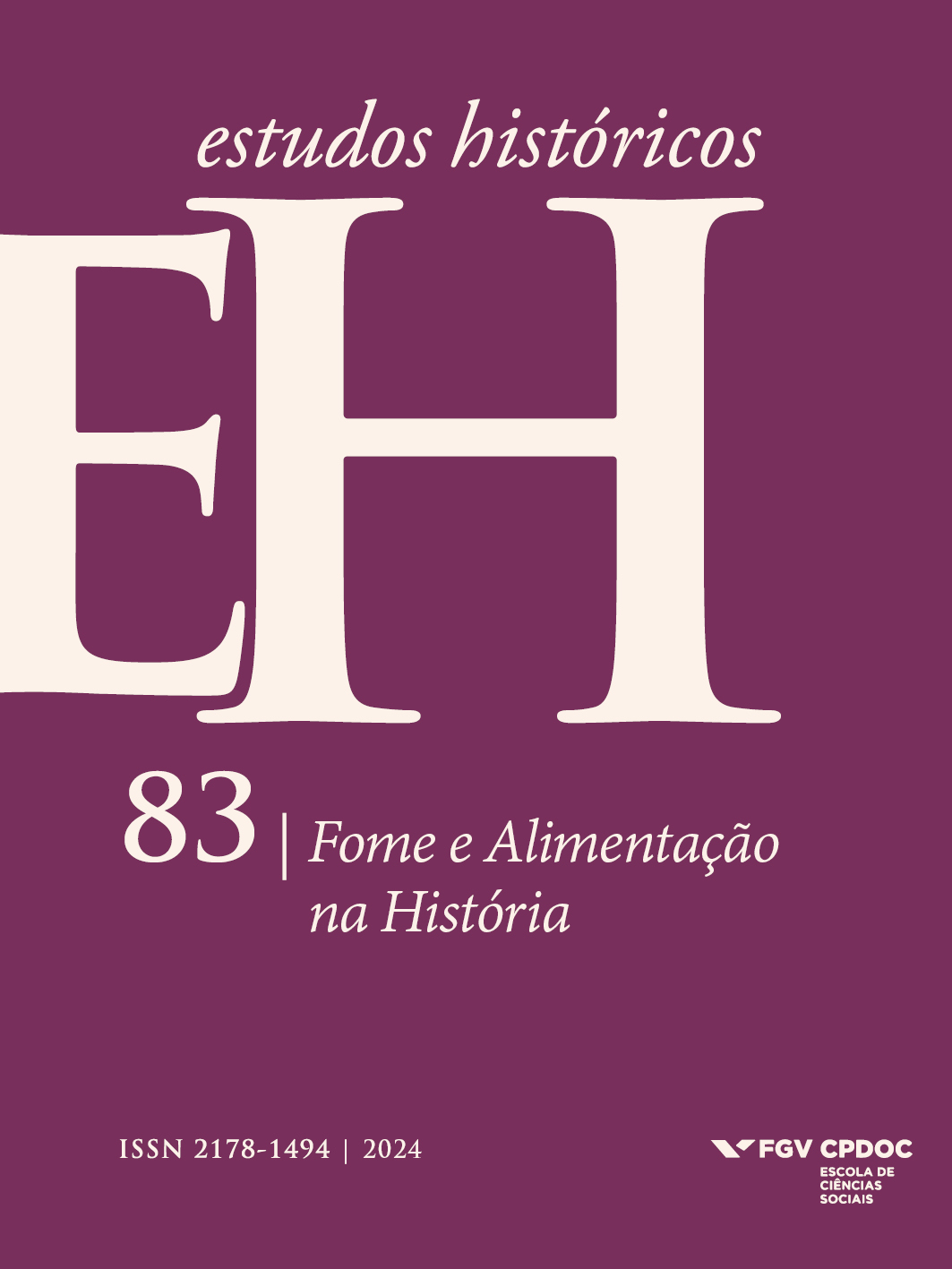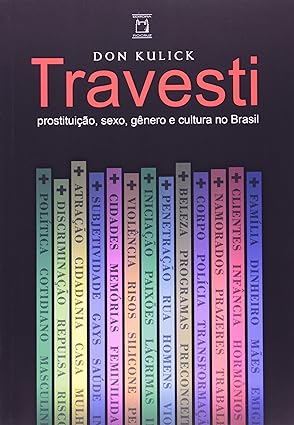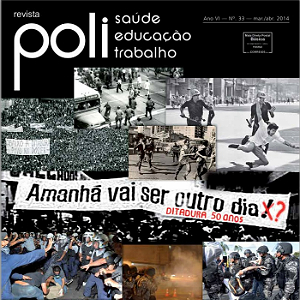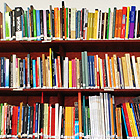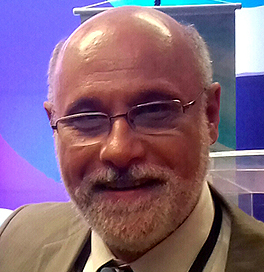Setembro/2025
Rafael Lopes Paes *
“A fome acabou no Brasil, saímos do Mapa da Fome. O que a Ação da Cidadania vai fazer daqui para a frente? A gente não sabe, a gente precisa de ajuda para recriar a Ação da Cidadania, olhar para frente, qual é o novo paradigma, qual é a nova utopia?”
Parece recente, mas essa fala foi extraída de uma entrevista com Rodrigo ‘Kiko’ Afonso, disponível na Biblioteca Virtual História da Fome, Pobreza e Saúde, sobre uma conversa com Daniel de Souza (diretor e presidente do Conselho da Ação da Cidadania) em 2014, quando o Brasil saiu pela primeira vez do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Infelizmente, a nova utopia não teve tempo o suficiente para ser idealizada: em 2021, dentro do contexto de desmonte de políticas públicas de combate à pobreza e da pandemia de Covid-19, a imprensa nos mostrava imagens de brasileiros enfileirados para conseguir doações de ossos e outros restos de carne.
A fome voltar a ser exposta no Brasil de forma tão crua justifica por que, após a divulgação do relatório “O estado da segurança alimentar e nutricional no mundo”, de 2025, pela FAO, vimos estampada de forma onipresente a notícia: “O Brasil volta a sair do Mapa da Fome”. Dos canais oficiais do governo até as redes sociais, todos os tipos de mídia disseminaram os resultados de que no Brasil, novamente, menos de 2,5% de sua população encontra-se em risco de subnutrição ou a falta de acesso à alimentação suficiente.
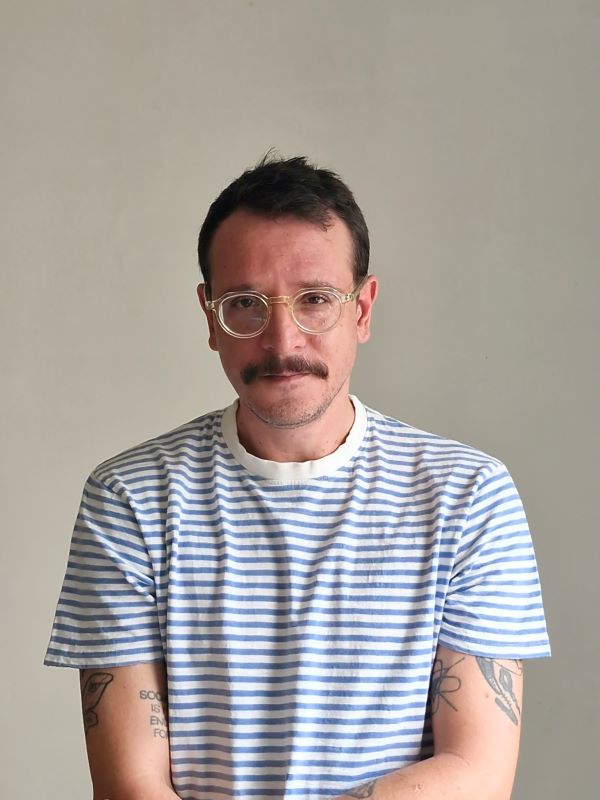
Rafael Lopes Paes
Poucos dias depois, análises e notas técnicas mais profundas começaram a ser veiculadas, algumas com questionamentos se a saída do Mapa da Fome realmente significava o fim da fome. Para uma sociedade que viu tal meta ser atingida em 2014, mas também viu-se novamente exposta ao flagelo da fome em menos de uma década, o marco é motivo óbvio para comemoração, mas não sem reflexões sobre resultados duradouros.
Tecnicamente, o Mapa da Fome não existe mais sob esse termo desde 2016, quando uma revisão passou a distribuir a classificação do relatório em termos de segurança alimentar e nutricional (SAN). Os relatórios da FAO incorporaram diferentes indicadores ao longo dos anos e, hoje, mede a situação de SAN dos países com dados sobre: a Prevalência de Subnutrição (PoU), a Prevalência de Insegurança Alimentar moderada ou grave baseada na FIES (Food Insecurity Experience Scale), o custo e acessibilidade de uma dieta saudável e outros indicadores nutricionais que medem a situação de saúde relacionada à nutrição, como dados sobre amamentação e obesidade na população.
Vejamos adiante o que significam exatamente esses primeiros indicadores:
- A prevalência da subnutrição (PoU) é uma estimativa da proporção da população cujo consumo alimentar habitual é insuficiente para fornecer os níveis de energia dietética necessários para manter uma vida ativa e saudável expressa em porcentagem, sendo o indicador que mede o progresso em direção à meta de fim da subalimentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2 – Fome Zero).
- A Prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave baseada na FIES (Food Insecurity Experience Scale) é um indicador alcançado por pesquisas domiciliares, indicando quantas pessoas enfrentam acesso limitado, irregular ou insuficiente a alimentos (moderado ou grave) e reflete a experiência direta dos indivíduos quanto à restrição alimentar.
- O custo e acessibilidade de uma dieta saudável refere-se à capacidade das pessoas de comprar uma dieta nutritiva e equilibrada, considerando preços dos alimentos, renda das famílias e paridade do poder de compra, medindo o custo diário necessário por membro da família em dólar.
Observados de uma perspectiva histórica, cada um desses indicadores surgiu sob diferentes percepções e teorias sobre o que é a fome. No artigo Josué de Castro e as metamorfoses da fome no Brasil, 1932-1946, publicado na seção Revisão Historiográfica da revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos (v. 28, n. 4, 2021), a historiadora Adriana Salay Leme traça uma linha do tempo sobre os significados da fome. A caloria, por exemplo, que hoje podemos consultar em rótulos de alimentos, foi um padrão encontrado para mensurar a fome no pós-guerra, quando estimativas diziam que 20 milhões de pessoas morreram de fome ou de doenças decorrentes dela.
O PoU é representativo desse entendimento da fome sob o paradigma calórico e foi introduzido como método para estimar a prevalência de acesso inadequado a alimentos em 1974, sendo adotado como indicador oficial dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio pela ONU em 2000. O uso desse indicador ganhou destaque conforme a ideia de que a fome estava ligada a questões de abastecimento e à escassez foi perdendo força nos anos 1960, trazendo o acesso ao alimento para a centralidade do problema progressivamente. Argumentos contrários ao PoU passam por questões como: uma arbitrariedade na definição do número padrão de calorias diárias necessárias, o fato de basear-se em estimativas, subestimando bolsões de extrema pobreza, e por deslocar a centralidade da alimentação da comida para os nutrientes. A ONU justifica sua importância pois fornece informações sobre tendências gerais e mudanças na fome ao longo do tempo, uma vez que a FAO publica estimativas globais e regionais desde 1974 e estimativas para países desde 1999.
No Brasil, já no início do século XX haviam discussões e produção científica que tratavam a fome como uma questão fisiológica, mas nos anos 1940 Josué de Castro traz à mesa sua dimensão social e econômica. Através do seu conceito de fome endêmica, aquela que não é decorrente de situação momentânea e permanece no tempo, sobretudo em populações carentes com renda insuficiente para ter acesso pleno aos alimentos, solidifica-se a ideia que permanece como tradição no Brasil de que o problema da fome deve ser responsabilidade do Estado e combatido através de políticas públicas que diminuam as desigualdades, e não apenas por ações de assistência. Não à toa, em um contexto de Guerra Fria, quando a assistência à pobreza no mundo vinha sobretudo de doações compradas de produção de alimentos excedentes vinda dos EUA, uma boa oportunidade de negócios e influência geopolítica, Josué de Castro terminou seus dias exilado do país pela ditadura empresarial-militar brasileira.
O indicador de prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave baseada na FIES traz a ideia de fome como questão social e coloca a pobreza como a maior causa da insegurança alimentar e nutricional (ISAN), reforçando o direito a uma alimentação adequada e o direito fundamental de todos a não sofrer a fome, como definido na Declaração de Roma Sobre a Segurança Alimentar Mundial de 1996. A trajetória para chegar a esse indicador remonta a pesquisas que começam nos anos 1980 e avançam pelos anos 90 nos EUA, como o Indicador Cornell, uma escala desenvolvida para medir a insegurança alimentar baseada na experiência das pessoas em relação ao acesso a alimentos através de questionários.
A partir do indicador Cornell e a do Community Childhood Hunger Identification Project (projeto gerenciado por ONGs), pesquisadores desenvolveram uma escala válida para aplicação em âmbito nacional, a Household Food Security Survey Module (HFSSM), que começou a ser usada em 1995. Nos anos de 1990, é importante ter em conta que a produção de estatísticas sobre a população vulnerável de um país é recomendada para que se focalize as ações para redução da pobreza e que recoloque essa parcela da população ativamente na economia, de acordo com o relatório World Development Report 1993: Investing in Health divulgado pelo Banco Mundial em 1993. No mesmo ano, o Brasil teve o seu primeiro Mapa da Fome publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) vinculado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Controle da Presidência da República. Na década seguinte, relatórios que mapeiam a SAN se mostraram fundamentais na formulação dos programas de renda condicionada (Prospera, Bolsa Família).
A partir dessas experiências, no início dos anos 2000, realizou-se no Brasil os trabalhos que levaram à construção da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), um instrumento que mede percepções e experiências subjetivas da fome percebida nos lares através de perguntas padronizadas sobre o acesso a alimentos adaptadas à realidade brasileira. A EBIA passou a ser usada pelo IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) em 2004 representando uma virada no olhar sobre a fome: saindo das relações entre produção, disponibilidade e calorias, para a experiência direta das famílias.
O índice de Prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave baseada na FIES foi introduzida no relatório The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) de 2017 e passou a ser um dos indicadores utilizados pela FAO para medir a SAN, juntamente com a PoU. Ambos os índices estão dentro do entendimento do acesso a um padrão de vida suficiente, incluindo alimentação como direito humano, com a diferença que a EBIA avalia a experiência no domicílio, enquanto o FIES da FAO a experiência individual.
Nessa mesma linha de percepção, o índice de Custo de Dieta Saudável mostra-se fundamental em uma sociedade marcada pela comoditização dos sistemas agroalimentares posta em ordem nos anos 1990 e 2000, quando as flutuações do mercado impactam o preço dos alimentos, que já ocupa grande fatia da renda do trabalhador médio, e pela transição nutricional, em que a insegurança não se mede só pela fome, mas também pela dificuldade de manter uma alimentação equilibrada.
A fome não acabou com a saída do Brasil do Mapa da Fome. Não apenas porque essa pergunta pode ser respondida por observação óbvia pelas ruas do país, mas também porque os próprios índices em que o SOFI se embasa são debatidos e construídos historicamente de acordo com diferentes visões do que é a fome e um padrão de vida suficiente, refletindo e reagindo a forças geopolíticas, econômicas, sociais e a avanços nos diversos campos de saberes das ciências do seu tempo, e que continuam em constante movimento de repensar a experiência humana de uma alimentação digna.
*Rafael Lopes Paes é mestre em História Política pela Uerj, professor na SME-RJ e atua na Biblioteca Virtual em Saúde HPCS: História da Fome, Pobreza e Saúde
Leia mais sobre fome e alimentação no Blog e na revista HCS-Manguinhos: