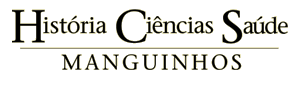Junho/2013
Ricardo Zorzetto | Revista Pesquisa Fapesp – Edição 208
Quando desembarcou na Inglaterra em 1980 para iniciar o doutorado, o médico gaúcho Cesar Gomes Victora portava um material precioso. Havia conseguido no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os dados sociais, econômicos e de saúde de quase 1% da população brasileira, armazenados em um enorme rolo de fita magnética, uma forma então sofisticada de guardar informações. Quando apresentou o material para seu orientador, o epidemiologista John Patrick Vaughan, ouviu de pronto: “Não confio em epidemiologia de gabinete”.
Essa primeira lição o fez regressar ao Brasil antes do planejado. Victora teve de pôr os pés na estrada e rodar o Rio Grande do Sul atrás de informações sobre as condições de vida e a saúde infantil no interior gaúcho. Esse trabalho revelou importantes condicionantes socioeconômicas da saúde – os níveis de desnutrição e mortalidade eram menores na região com distribuição de renda menos desigual e agricultura familiar – e o convenceu do princípio apresentado por seu orientador, que Victora adota até hoje com seus alunos: o epidemiologista deve ir a campo coletar seus dados.
Concluído o doutorado, Victora, avesso à correria dos grandes centros, retornou em 1984 para a distante e tranquila Pelotas, onde já era professor da universidade federal recém-criada ali – a Universidade Federal de Pelotas. Nessa cidade de gente afável e receptiva, importante centro econômico gaúcho em fins do século XIX que produzia couro e charque, a carne seca e salgada que servia de alimento a tropeiros e escravos, ele ajudou o pediatra e amigo Fernando Barros a criar no país uma das primeiras coortes de nascimento, nome dado aos estudos que acompanham por longos períodos a saúde das pessoas nascidas em um lugar num certo ano. Iniciado em 1982, esse acompanhamento, que continua até hoje, gerou desdobramentos que tornaram o trabalho da dupla reconhecido no país e no exterior e transformaram o Centro de Pesquisas Epidemiológicas, organizado por eles, em referência internacional na área.
Considerado um dos mais respeitados epidemiologistas em saúde infantil no mundo, premiado no Brasil e no exterior, Victora tem 61 anos e está aposentado da universidade desde 2009. Mas continua altamente produtivo: já publicou mais de 500 artigos, quase 70 nos últimos quatro anos. Quando não está viajando – passa 40 dias voando de um país a outro a cada ano –, costuma trabalhar em sua casa, em frente à lagoa dos Patos, onde pratica windsurf sempre que o vento permite. Entre um compromisso e outro, ele recebeuPesquisa FAPESP em Pelotas em março para a entrevista a seguir.
Um fato em sua carreira chama a atenção. O senhor se formou em 1977 e no ano seguinte já era professor em Pelotas. Como aconteceu?
Foi coincidência. Eu fazia residência em saúde comunitária em Porto Alegre e, no meio do curso, a Universidade de Pelotas foi federalizada. Antes a faculdade de medicina era independente, se chamava Faculdade Leiga de Medicina de Pelotas porque havia outra, a católica. E a leiga estava procurando professores porque precisava ter um Departamento de Medicina Social. Foram até meu curso atrás de pessoas, e resolvi vir. Sou de São Gabriel, no interior do estado, e sempre quis morar numa cidade menor que Porto Alegre, que já achava grande.
O senhor começou as pesquisas em saúde pública quando foi para a Inglaterra fazer o doutorado?
Um pouquinho antes. Logo que vim para cá, comecei a fazer pesquisas, influenciado por Kurt Kloetzel, o fundador do departamento, que foi quem me trouxe para cá.
O que pesquisava?
Comecei a estudar mortalidade infantil e desnutrição. Sempre trabalhei com populações muito pobres, de favelas de Pelotas e Porto Alegre, e havia percebido que as crianças sempre voltavam [ao posto de saúde] com os mesmos problemas: diarreia, desnutrição, pneumonia. Eu tratava uma criança e ela voltava duas semanas depois com a mesma coisa. Elas viviam num ambiente de muita pobreza, não tinham água encanada, não eram amamentadas e estavam expostas a contaminações ambientais. Foi aí que resolvi ir para a epidemiologia e tentar fazer algo voltado para a prevenção das doenças.
Como escolheu ir para Londres?
Fiquei em dúvida. Fui aceito em um curso em São Francisco, na Califórnia, e em outro em Londres. Comecei a ler os artigos e gostei mais da epidemiologia inglesa. Os estudos não são ambiciosos demais. A epidemiologia norte-americana fazia estudos enormes, com múltiplos objetivos e uso de tecnologia sofisticada. Eu achava que essa corrente não seria útil no Brasil, um país pobre na época. Meu doutorado foi sobre o perfil da desnutrição no Rio Grande do Sul. Comparei a frequência de desnutrição no estado e mostrei que no sul, onde estavam os latifúndios, a mortalidade infantil era muito alta. Já na região norte, onde predominava o pequeno agricultor, que tinha sua terra, cultivava seus alimentos, a desnutrição e a mortalidade eram baixas.
Na época Fernando Barros, seu colega, estava retornando ao Brasil. Vocês já pretendiam iniciar os estudos de acompanhamento da saúde das pessoas nascidas em Pelotas, as coortes de nascimento?
Tínhamos planejado alguns estudos, mas éramos amadores, sem formação específica. Alguns anos antes um professor inglês, David Morley, que orientou o Fernando no mestrado, nos apresentou o epidemiologista John Patrick Vaughan, nosso orientador no doutorado. Quem criou a primeira coorte foi o Fernando, que no doutorado planejou o levantamento de 1982. Quando voltei da Inglaterra em 1983, tinha conseguido financiamento para outro estudo e sobrou dinheiro. Aí fizemos o acompanhamento de 1983. O estudo de 1982 era um levantamento para medir mortalidade infantil, prematuridade e outras características do recém-nascido. Esse estudo incluiu os 6 mil nascimentos da cidade naquele ano. No Brasil está cheio de estudos feitos em um único hospital, o que não permite ter essa característica populacional. Depois Fernando, o Patrick e eu conseguimos financiamento da Inglaterra para continuar.
Qual a abrangência do levantamento?
Em 1982 pegamos 99% dos nascimentos registrados em hospitais e maternidades de Pelotas, porque 1% nascia em casa. No ano seguinte fomos atrás do endereço dado pelos pais e reencontramos 83%. Perdemos 17%. É uma taxa razoável, mas, se perco isso em um ano, como vou acompanhar um número razoável no longo prazo? Na época as pessoas não iam embora de Pelotas. Mudavam de bairro. Então tive a ideia: quem sabe não vamos de casa em casa e as encontramos? Surgiu até uma piada de mau gosto. Chamaram de Operação Herodes porque, assim como Herodes ia de casa em casa procurando Jesus, a gente procurava as crianças da cidade. Com essa estratégia, em 1984 achamos 87,5%. O aumento nesse índice é paradoxal, porque com o tempo a tendência é diminuir. Aliás, uma das características das coortes de Pelotas é a taxa de acompanhamento fantástica, mais alta que a das feitas em outras regiões do Brasil e até no exterior. Há uma coorte inglesa famosa de 1970 que, 30 anos depois de iniciada, não encontrou tanta gente quanto encontramos no ano passado, quando nossa primeira coorte completou 30 anos e localizamos 68% dos nascidos em 1982.
Vocês esperavam fazer um acompanhamento tão longo?
Fizemos uma visita a todas as crianças quando completaram 2 anos e depois aos 4 anos e achamos que tinha dado. Só retomamos a coorte quando elas completaram 15 anos. Perdemos informações sobre uma fase crítica do desenvolvimento. Podíamos ter feito uma visita aos 7 e outra aos 10 ou 11 anos, como estamos fazendo com as coortes mais recentes.
Foi difícil obter verba para continuar?
Esse é um desafio constante. As agências financiadoras gostam do projeto, mas depois de certo tempo se cansam e mudam as prioridades. De 2004 a 2014 tivemos financiamento da Wellcome Trust para as três coortes, de 1982, 1993 e 2004 [em maio a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, a Decit, aprovou financiamento para as principais coortes de nascimento brasileiras, a de Pelotas, a de Ribeirão Preto e a de São Luís, no Maranhão].
Quais projetos desenvolveram depois da primeira coorte?
Fernando e eu começamos a trabalhar no Nordeste do Brasil com o Unicef [Fundo das Nações Unidas para a Infância] para mapear a desnutrição e a mortalidade infantil. Entre 1987 e 2001, fizemos inquéritos em nove estados. Havia índices altíssimos de mortalidade infantil [as taxas eram superiores a 100 mortes para cada mil nascimentos]. Interagimos com secretários de Saúde e conseguimos direcionar as linhas de atuação dos estados com base nos resultados da pesquisa. Mas nosso grupo era pequeno. Fernando e eu treinávamos de forma amadora os colegas interessados. Em 1990 vimos que precisávamos de gente que quisesse fazer epidemiologia. Então criamos o mestrado em 1991. Foi nossa maior sacada. Já formamos mais de 100 mestres e 50 doutores. A maior parte vai embora, mas temos uma massa crítica. É um grupo forte, reconhecido no Brasil, com conceito 7 na Capes.
O que os levou a procurar de novo as crianças de 1982?
Em 1997 conseguimos um dinheiro do Unicef, que estava interessado em saúde do adolescente. Como não era muito, só conseguimos avaliar 25% da coorte. Em 2000, quando completaram 18 anos, os meninos entraram no Exército. Montamos uma clínica no quartel para examiná-los. Conseguimos ver mais de 80% da amostra inicial. Também fomos atrás de 25% das meninas. Na época pedimos verba para a Wellcome e em 2004 quando elas tinham 23 ou 24 anos encontramos 75%. Agora, com 30 anos, achamos 68%.
Como estão essas pessoas?
O que chama a atenção é que estão gordas. Mais da metade está com sobrepeso ou obesidade. Antes havia subnutrição.
Já começam a manifestar problemas decorrentes do excesso de peso?
Sim. Nos exames já aparecem colesterol elevado, glicemia elevada, pressão alta, proteína C reativa [marcador de inflamação crônica] elevada. Quero formar gente jovem porque espero que essa
coorte dure mais 30 ou 40 anos, como as coortes clássicas. Esse tipo de pesquisa dá uma ideia do que chamamos de epidemiologia do ciclo vital, que começa na concepção e atravessa a vida toda.
Nesses 30 anos, o que vocês aprenderam com as coortes?
O principal é a importância dos fatores de risco precoces e dos primeiros mil dias de vida, quando podem ocorrer danos irreversíveis. Conseguimos provar que ganhar peso rápido é bom nesse período, que vai da concepção ao segundo aniversário. Depois começa a ser ruim.
Como cuidar da criança nos mil dias?
A primeira coisa é investir para que a mulher comece uma gestação saudável. Que não seja subnutrida, nem obesa, nem tenha diabetes. Durante a gestação, é preciso oferecer pré-natal de qualidade. No Brasil o número de atendimentos pré-natal é grande, mas a qualidade é baixa. Não é preciso alta tecnologia. Tem de fazer os exames básicos, orientar a nutrição. Após o parto, precisa orientar a mãe a amamentar nos primeiros seis meses de vida, sem dar mais nada, e tentar seguir amamentando até os dois anos. Só a partir dos seis meses entrar com alimentos com alto valor de proteína e nutrientes. É nessa fase que a criança desenvolve mais o cérebro, o fígado, o pâncreas, órgãos que podem causar problemas na idade adulta. A partir de dois anos, o desafio é evitar que a criança engorde. Nossos resultados mostram que o ganho de peso rápido no início da vida se transforma em ossos, músculos e vísceras como fígado e cérebro. Depois de dois anos, se transforma em gordura.
E essa gordura leva a problemas…
A pior combinação é ser subnutrido no começo da vida e obeso depois. A criança que é subnutrida no útero nasce com baixo peso e tem um déficit de altura nos dois primeiros anos de vida. Seu organismo fica programado para ser pequeno e, depois, não tolera uma dieta como a que temos, com alimentos gordurosos e ultracalóricos. O Brasil está numa fase crítica. Os adultos de 30 anos são as crianças que cresceram quando havia desnutrição e subnutrição. Agora enfrentam um ambiente obesogênico, com pouca atividade física e abundância de comida. Achei um equívoco o Fome Zero. Fome no Brasil, se existir, é em bolsões. Todos têm o que comer, mas comem as coisas erradas, porque são baratas.
Os resultados de Pelotas, uma cidade de 300 mil habitantes, valem para o Brasil?
As coortes em geral são feitas em apenas um lugar. O estudo que mais ajudou a conhecer os fatores de risco da doença cardiovascular é o de Framingham, uma comunidade pequena e rica no estado de Massachusetts, Estados Unidos. Qualquer estudo desse tipo parte do microcosmo. Agora há duas coisas. Uma é medir a prevalência de uma doença. Se quero saber quantas pessoas têm hipertensão no Brasil, o resultado de Pelotas não resolve. É preciso um estudo nacional. Mas, se quero saber se quem é gordo tem mais hipertensão, não preciso fazer no Brasil inteiro. Pego uma cidade que tenha variabilidade, não só rico nem só pobre, não só gordo nem só magro, e faço um estudo que tem validade interna e serve para mostrar uma associação de fatores. Pelotas é interessante porque é o pobre do Sul, o pobre dentro do rico, mais parecida com o resto do Brasil do que com o Rio Grande do Sul. Nos estudos em Pelotas encontro associações entre fatores de risco e doença que se aplicam ao país.
O foco é encontrar fatores que determinem a saúde das pessoas lá adiante.
Exatamente. E o que vemos aqui, aposto, é verdade para o resto do Brasil. Quando me convidaram para coordenar uma série de artigos que saiu na Lancet em 2008, fui atrás das maiores coortes de fora dos países ricos. Identifiquei as da Guatemala, Pelotas, Soweto [África do Sul], Nova Délhi [Índia] e ilhas Cebu [Filipinas]. Criamos um consórcio de pesquisas em saúde em sociedades em transição, o Cohorts. Os resultados são muito parecidos. Estamos publicando na Lancet artigos sobre a questão dos mil dias. Esses trabalhos mostram, pela primeira vez num estudo sistemático em vários países, que ganhar peso é diferente de ganhar altura. Quem ganha altura rápido vai ser um adulto mais saudável, mais inteligente, mais produtivo, com maior escolaridade.
Há alguma razão biológica?
Sim. Altura é massa magra: osso, músculo e víscera. Forma um adulto mais alto, mais forte, com cérebro maior, fígado maior e pâncreas maior. Essa pessoa tem mais capacidade de produzir insulina, seu fígado tem mais capacidade de processar, o rim filtra melhor. O ganho de peso não. No início da vida o que se quer é ganho de peso. Nessa fase ele influencia a altura. O pediatra vai ter de pensar como fazer para a criança crescer em altura sem ganhar peso demais.
Já se sabe como promover isso?
Não. Sabemos que algumas coisas ajudam a ganhar altura, como a amamentação e uma dieta rica em proteína de alta qualidade – principalmente a animal – e em alguns micronutrientes.
Se depois desse período a criança continuar miúda, é melhor deixar assim?
Tudo quanto é pediatra, inclusive eu, quando pega uma criança de 3 ou 4 anos magrinha, o que faz? Faz engordar. Mas não se consegue mais recuperar a altura. Já passou a janela dos mil dias. Vamos ter de mudar como a gente pensa o crescimento e os programas de nutrição e saúde.
Como convencer os pediatras?
É paradoxal. Quando um pediatra de Pelotas descobre algo assim, ele não consegue convencer outro pediatra de Pelotas. Nos anos 1980 fizemos um estudo mostrando que até os 6 meses a criança só devia tomar leite materno. Ninguém acreditou. Conseguimos convencer a Organização Mundial da Saúde [OMS] e o Unicef, e eles convenceram o Ministério da Saúde, que convenceu os pediatras brasileiros. Hoje os bons pediatras recomendam isso. Existe um ciclo [de disseminação do conhecimento] que nem sempre é direto. Fomos convidados para apresentar os dados sobre os mil dias em março numa reunião da OMS. Estamos começando o processo de translação, que é transformar o resultado de um estudo científico em uma prática clínica, uma política de saúde. É um processo lento.
Como foi o estudo que estabeleceu o padrão ideal de crescimento infantil?
As coortes fornecem informação descritiva. Esse outro estudo buscava informações prescritivas de como é o crescimento ideal da espécie humana até os 5 anos. É uma curva simples: peso, idade e altura. Para estabelecer esse tipo de curva, tenho de estudar gente que cresce bem, e nas coortes tem gente que cresce bem, mal, mais ou menos. Todo mundo dizia que brasileiro é diferente de jamaicano, norueguês, indiano. Então fizemos uma coisa ambiciosa. Pegamos uma amostra de mais de 7 mil crianças do Brasil, dos Estados Unidos, da Noruega, de Omã, de Gana e da Índia. Escolhemos mães e crianças de bom nível socioeconômico – as mães tinham feito pré-natal, não eram fumantes nem tinham doenças importantes, e as crianças haviam sido amamentadas – e fomos ver como as crianças crescem. Até para a nossa surpresa, elas cresceram de modo muito parecido. Se pensa que brasileiro é baixinho e norueguês é alto. Aos 2 anos, o brasileiro tinha 0,2 centímetro a mais que o norueguês.
Que parte desse estudo foi feita em Pelotas?
Ajudamos a desenvolver a metodologia. O primeiro centro a fazer esse estudo foi o nosso. O pessoal dos outros países veio treinar aqui. Hoje essa curva de crescimento é usada em 140 países.
Deve ser motivo de orgulho.
Para mim, é. Fazer pesquisa e escrever artigo é bom, mas estou me aproximando do final da carreira e quero ver resultados práticos.
Essa curva indica se fatores ambientais influenciam o crescimento saudável?
O que mais chama a atenção é que uma criança de Nova Délhi, Omã ou Pelotas pode crescer tanto quanto uma da Califórnia ou da Noruega, se tiver as condições adequadas. A ideia de que existe uma diferença genética cai por terra Uma pessoa pode ser baixinha ou alta por questões genéticas. Mas em cada população tem gente alta e baixa. De um modo geral, porém, as populações saudáveis são muito parecidas.
Vocês estão iniciando outro trabalho preditivo, o da curva de crescimento fetal. Como é?
É a mesma ideia. Não há padrões internacionais para fazer ultrassom durante a gestação e dizer se a criança está crescendo bem. Há curvas feitas com informações de um único lugar. Estamos fazendo um estudo com oito centros, coletando dados da 9asemana de gravidez até a 38a, 39a ou 40a de um grupo de mães cuja condição de saúde permite um crescimento ideal. O trabalho, coordenado pelo Fernando Barros, está avançado. Temos informações de 360 mães, serão 500.
Como decidiram iniciar outras coortes?
Começamos a perceber que a situação estava mudando e achamos interessante fazer outra coorte 10 anos depois da primeira. Pedimos financiamento para a Comunidade Europeia, mas o projeto atrasou e saiu em 1993. Por isso decidimos fazer a terceira coorte em 2004, para manter o intervalo de 11 anos. Já temos dinheiro para iniciar mais uma em 2015. Temos dados de quando as crianças das três coortes estavam com 4 anos. Da primeira para a terceira, a obesidade aos 4 anos duplicou. Nesses 30 anos a situação mudou muito. Por exemplo, o percentual de adolescentes que já foram assaltados é bem maior agora que em 1982.
Vocês avaliam questões além da saúde física?
Temos antropólogos, sociólogos, criminologistas no grupo. Essas coortes não são mais só de saúde pública. São de trabalho, vida social, comportamento.
O que mais mudou?
Eles têm mais escolaridade. Na primeira coorte, um grande número de crianças não completava as primeiras séries da escola. Hoje todo mundo vai. O número de fumantes parece estar diminuindo. Eles estão mais obesos e há mais nascimentos prematuros, o que me preocupa. Também observamos menos atividade física. As crianças iam a pé ou de bicicleta para a escola. Hoje vão de carro ou ônibus.
No restante do país, o que se alterou de quando era estudante para cá?
Quatro coisas chamam a atenção. A redução da mortalidade infantil e da subnutrição; o aumento da obesidade; e o aumento no nascimento de prematuros. Este último está relacionado em parte ao aumento de cesarianas. Hoje 54% dos partos em Pelotas são cesarianas. No Brasil é quase 50%. No setor privado é 90% e no setor público, 35%, o que ainda é alto. O ideal é 15% ou menos. Há uma epidemia. Ao mesmo tempo, a amamentação melhorou. Quando começamos, a duração era de dois a três meses. Hoje são 14 meses.
A melhora na saúde pública também é consequência da criação do Sistema Único de Saúde, o SUS?
Acho que sim. Sou a favor do SUS e do PSF, o programa de saúde da família. Fizeram uma diferença enorme. Agora, o SUS é subfinanciado. O governo brasileiro investe pouco no SUS, em relação ao tamanho da máquina. Então há problemas cada vez maiores. Quem pode está pulando para os planos privados de saúde porque a qualidade do SUS é ruim. A situação é melhor do que antes, mas o SUS está ameaçado pelo subfinanciamento. O Brasil gasta proporcionalmente menos em saúde pública do que os Estados Unidos [que não têm um sistema de saúde pública universal].
Vocês sofisticaram o tipo de medição que estão fazendo nas coortes. Quais informações esperam conseguir?
Até bem pouco tempo só tínhamos o IMC, o índice de massa corporal, que podia ser alto porque a pessoa tem muita massa magra ou muita massa gorda. A gente sabe que massa magra é benéfica e massa gorda, maléfica. A primeira melhoria foi adotar métodos para separar massa magra de gorda e separar a massa gorda ruim, como a gordura interna do abdômen, da massa gorda não tão ruim, como a gordura das coxas, das nádegas e a gordura superficial da barriga. Os dados acabam de ser coletados. Queremos saber por que algumas pessoas acumulam, desde sua origem, a gordura mais nociva.
Há outras ferramentas novas?
Temos os exames de sangue e o DNA de 4 mil pessoas da coorte de 1982. Estamos fazendo o escaneamento genômico para tentar ver os genes associados a acumulação da gordura intraperitoneal. Acho que é a maior amostra no Brasil a usar essa técnica. Levou três ou quatro anos para começar devido aos entraves burocráticos do Brasil. Já podíamos ter publicado os resultados.
Quais foram os entraves?
Quando pedimos autorização à Comissão Nacional de Ética e Pesquisa [Conep] para coletar material genético e estudar o DNA, perguntamos quais seriam os termos da autorização e fizemos como informado. Em nenhum momento disseram que era preciso informar que o material genético seria estudado no exterior. Mais tarde a Conep disse que não tínhamos essa cláusula no contrato e tivemos de refazer todo o procedimento. Que diferença faz onde vai ser examinado se a pessoa autorizou a coleta e os dados são confidenciais? Também tivemos percalços para pagar os exames. O Tribunal de Contas da União exige concorrência internacional. Isso não existe em outros países. Esses percalços não justificados atrapalham a pesquisa no Brasil. No caso de uma universidade federal fazendo pesquisa observacional – não vou dar remédio, não vou fazer cirurgia nem nada que coloque em risco a vida – de interesse público, tinha que haver um sistema de aprovação rápida. Esses entraves burocráticos que afetam a nossa competitividade internacional são o custo Brasil da pesquisa.
Fonte: Revista Pesquisa Fapesp