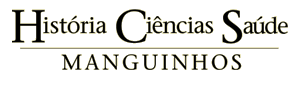Dezembro/2014
Marlucio Luna | História Viva

A capital do reino de Benin tinha sua avenida central mais larga que a principal via de Amsterdã no século XVI
Alberto da Costa e Silva pode ser apresentado como ganhador do Prêmio Camões de 2014, imortal da Academia Brasileira de Letras, poeta consagrado, pesquisador ou diplomata, mas nesta entrevista quem fala é o maior especialista brasileiro em História da África. Autor de obras pioneiras, como A enxada e a lança: a África antes dos portugueses e A manilha e o libambo: África e a escravidão, de 1500 a 1700, ele combate estereótipos e sugere novas abordagens no estudo sobre o continente. Com a autoridade de quem acompanha a produção acadêmica sobre a África, o pesquisador se inquieta com o papel desempenhado pela universidade brasileira, “preocupada em formar professores para ela, não para o ensino fundamental e médio”. Para completar, Alberto da Costa e Silva aponta erros graves em livros didáticos e questiona a qualidade do material. Mesmo diante de tantos problemas, ele reforça a aposta na nova geração de historiadores.
O senhor é reconhecido como o maior estudioso brasileiro da História da África. De onde vem esse interesse?
Eu era muito novo, 15 ou 16 anos, quando comecei a ler sobre a África. Tinha aquela curiosidade natural da idade, que se consolidou ao longo da vida. Mas a dedicação à pesquisa, ao estudo aprofundado, só veio nos anos de 1970 – acho que 1971 ou 1972.
O que o levou a se iniciar nela?
Naquela época, trabalhava na embaixada brasileira em Madri. Em um jantar com Carlos Lacerda, começamos a conversar sobre a guerra de independência de Angola. Em determinado ponto da conversa, Lacerda usou aquele tom que lhe era peculiar: “Alberto, você tem tanta informação sobre a África. Não pode guardar isso; tem a obrigação de escrever”. Aceitei o desafio e mergulhei no estudo da história africana. Levei dez anos para escrever o primeiro livro (A enxada e a lança: a África antes dos portugueses) e não parei mais.
O interesse no tema deve ter gerado surpresa.
Muita. Eu ouvia questionamentos de todo tipo. Por que não estudar os gregos? A minha resposta era: os gregos estão longe. Sempre tive fascínio por reconstruir o passado, usando a imaginação para fazer retratos. Sou poeta e isso sempre foi natural. Porém, imaginação é o oposto da fantasia. Fantasia não é útil na reconstrução do passado.
Nesse mergulho na História da África, o que mais surpreendeu o senhor?
A riqueza que envolve essa história. Nos anos 1960, as pesquisas acerca da História da África tiveram grande impulso na Europa e nos Estados Unidos. As questões abordadas se multiplicavam com velocidade, com toda a sorte de produção acadêmica. Na Europa, acompanhei de perto esse salto qualitativo. Aqui no Brasil, não se cuidava do tema. A impressão que se tinha era a de que o negro havia nascido no navio negreiro.
Ninguém no Brasil estudava a África?
Nos anos de 1960 e 1970, não. A África era vista como se fosse um “grande país”, erro que se comete até hoje. Não se percebia que, na verdade, há várias Áfricas, várias culturas, várias histórias. Naquela época não dispúnhamos de literatura sobre o continente africano. Tínhamos apenas bibliografia sobre o africano no Brasil.
Um quadro completamente oposto ao encontrado na Europa.
Sim, mas as escolas inglesas e francesas estudavam a História da África para compreender melhor aqueles povos dominados que estavam se tornando independentes. Isso não explica o quadro brasileiro.
Na sua opinião, o que explicaria?
O brasileiro não entende que somos fruto de uma história anterior. Aqui não se estuda a História de Portugal, da Espanha, da Itália, dos árabes. O mesmo digo sobre índios e negros. Tudo está conectado. A campanha de Napoleão na Europa impacta diretamente o Brasil Colônia e, consequentemente, a independência. As rebeliões de negros ocorridas na Bahia no século XIX estão diretamente ligadas às jihads na Nigéria. O exemplo de Napoleão é utilizado; o que não ocorre com as rebeliões na Bahia. É preciso saber que as guerras na África tinham papel importante na oferta de africanos escravizados. Elas influenciaram a formação do Brasil, mesmo que não percebamos.
Em seus livros, o senhor destaca o equívoco que é resumir a relação entre Brasil e África ao comércio de escravos.
Reducionismo absurdo. Os africanos trouxeram para o Brasil bens, instrumentos, técnicas de mineração, técnicas de criação extensiva de gado, vegetais, uma infinidade de elementos. Temos a tendência perversa de falar apenas em “escravo”. Não falamos em banto, fon, ioruba ou congo. Não falamos da contribuição que essas culturas deram ao Brasil. O que se estabeleceu aqui foi um diálogo de culturas, um quadro extremamente complexo.
Nesse diálogo de culturas, qual delas teve maior influência na formação do Brasil?
Com certeza, as culturas da África centro-meridional. Mas tal análise precisa levar em consideração de que região brasileira falamos. A área que engloba Maranhão, Pará e Amazonas traz a marca dos povos da Alta Guiné. A Bahia recebe a influência de fons, iorubas, gans, guns e hauçás. Já Rio de Janeiro e São Paulo são impactados pelos africanos vindos do Congo, do Gabão, de Moçambique e Angola. Se estudarmos o fluxo para o Brasil de africanos escravizados, veremos que mais da metade é trazida de Angola, do Congo e do Gabão. Eles trazem bagagem intelectual que é pouco percebida. A imagem que fica é a de mão de obra sem qualificação, usada no trabalho bruto da lavoura, mas é enganosa.
E qual é a imagem real?
Segundo relatos dos viajantes do século XVI, a principal avenida de Benin era mais larga do que a principal de Amsterdã. As casas da Alta Guiné eram similares em conforto às da cidade inglesa de York. Até a Idade Média, havia proximidade tecnológica entre a África e a Europa. A diferença é que a roda e a engrenagem não eram usadas na África. Um historiador americano diz que isso ocorreu por culpa do camelo.
Como assim?
É uma teoria interessante. Segundo esse historiador, a roda não teria atravessado o Saara por causa da maior eficiência do camelo, imbatível na disputa com veículos de tração no deserto. O camelo é mais resistente, mais eficiente para enfrentar o deslocamento na areia, e tem força para levar grandes volumes. A roda perdeu para o camelo.
Voltando à complexidade das sociedades na África, como se estabelecia o poder político?
Temos sociedades altamente hierarquizadas. Cada pessoa sabia o seu lugar. Não havia regra comum para a posição do rei. Como inexistia um sistema unificado de transmissão de poder, cada sociedade estabelecia regras próprias de acordo com as características dos grupos. Daí encontrarmos uma variedade tão grande de formas de exercício do poder. O teatro do poder era exercido como na Europa, com disputas acirradas, alianças, traições e pactos. Isso é um dos motivos por que falo em diversas Áfricas.
É uma África que se distancia dos estereótipos.
O estereótipo deriva dos textos fantasiosos. Eles apresentam a África como um continente feliz, onde os povos antigos cantam, dançam e adoram deuses estranhos. Ela é um continente como outro qualquer, com histórias de injustiça, sofrimento, conflito, mas também de invenção, beleza, diversidade. Há que se tomar muito cuidado para que não sejam reforçados estereótipos. Essa é uma armadilha para o jovem pesquisador.
Qual a sua avaliação da produção acadêmica atual sobre a História africana?
Tenho acompanhado o trabalho de excelentes jovens historiadores brasileiros. Eles estão pesquisando arquivos no Brasil, em Angola, Moçambique. Essa produção apresenta um olhar especial, uma nova forma de estudar a História da África, mas a universidade no Brasil ainda é débil em muitos aspectos. Muitos pesquisadores ganham bolsas para universidades dos Estados Unidos ou do Canadá e não retornam. Passam a integrar o corpo de pesquisadores dessas instituições. Perdemos talentos que seriam importantíssimos para a mudança de visão da universidade.
Como assim?
A História da África ainda é vista com preconceito por parte da universidade no Brasil. Tenho receio de que seu estudo termine limitado a um gueto. Ele deve fazer parte estudo de História Geral. A universidade forma professor de História da África para ela, não para o ensino fundamental ou médio. O conhecimento fica restrito a um círculo de iniciados, de interessados em algo que poucos pesquisam.
A Lei 10.639 tornou obrigatório o ensino de História da África e da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. Depois de 11 anos, qual a sua avaliação sobre a eficácia da lei?
Algumas situações me preocupam. Cito, em particular, a questão dos livros didáticos. Vejo coisas absurdas, textos que desinformam, que apresentam erros gravíssimos.
Cite um exemplo.
Um livro apresentava a foto da atriz Elizabeth Taylor no papel de Cleópatra e um texto classificando o filme como responsável por disseminar um erro histórico, pois os egípcios seriam negros e Cleópatra jamais poderia ter a pele clara. Houve apenas uma dinastia egípcia negra, a núbia. Cleópatra pertencia à dinástica ptolomaica e tinha pele clara. De onde o autor tirou a ideia de que todos os egípcios eram negros? Como ele não conhece as dinastias?
Mas o senhor falou em reforço de estereótipos.
Vários livros didáticos insistem em apresentar o africano no Brasil como o escravo oprimido, o quilombola resistente ou a mão de obra submetida a todo tipo de exploração. É tristeza, dor, sofrimento de um lado; do outro, é festa, cantoria, dança, alegria exagerada. Os opostos formam um estereótipo cristalizado no imaginário popular. É muito pouco. Onde está a contribuição dada pelo africano para o desenvolvimento da criação extensiva de gado no Brasil? Os grandes artesãos, artífices e profissionais negros que foram fundamentais na vida do Brasil Colônia e do Brasil Império não aparecem nos livros didáticos. Quem conhece a trajetória profissional dos irmãos Antônio e André Rebouças como engenheiros? André é um dos principais nomes da engenharia brasileira na segunda metade do século XIX, amigo de Pedro II. E nada da África aparece nos livros. É um continente que parece só existir após a chegada do europeu.
Como mudar esse quadro?
Pode parecer redundante, porém é a verdade: é necessário começar pelo começo, não podemos estudar a História da África a partir do século XIX. Isso vale para o ensino fundamental, médio, e para a universidade. É um erro grave, mas que se mantém. Digo isso com tranquilidade, pois sou autodidata. Quando decidi pesquisar com profundidade a História da África, escolhi esse caminho.
Fale um pouco mais sobre “esse caminho”.
Comecei lendo os documentos mais antigos. São sucintos, mas marcam o início do conhecimento a respeito da África. É interessante ler a descrição que os árabes fazem do mundo dos infiéis. Depois, parti para a leitura dos relatos dos navegadores dos séculos XV e XVI. Eles viram tudo de perto e contaram. Podiam ser preconceituosos, arrogantes, mas olhavam tudo com curiosidade e atenção. Sabiam escrever bem, sabiam desenhar esboços, mas bem elaborados e, o melhor de tudo, sabiam ouvir.
Fonte: História Viva
Leia em HCSM:
– ‘Medicina no contexto luso-afro-brasileiro’ é tema de dossiê em HCS-Manguinhos
– Como viviam e morriam os escravos no Brasil?
– Jovens africanos criam sabonetes contra a malária
– “Brasil é um país de colonização mais africana do que europeia”, diz historiador