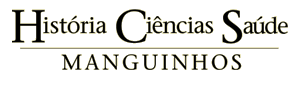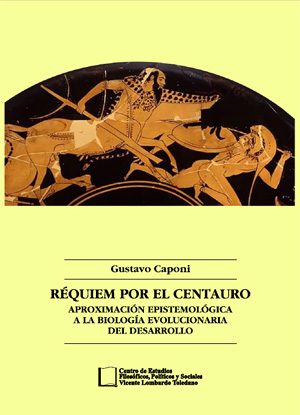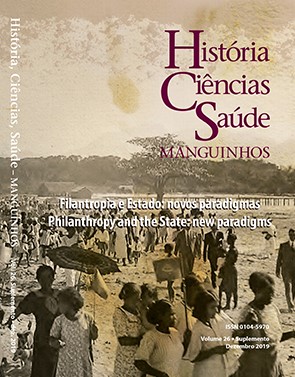Abril/2014
Mary Del Priore e Márcia Pinna Raspanti | História Hoje
Algumas não querem mais se levantar pela manhã. Sob os lençóis, faça sol ou chuva, sentem-se afogar. Asfixiam. Sofrem por nada. Nada é causa específica de suas dores, quando desfilam imagens na sonolência das primeiras horas. Mas são tomadas por um sofrimento lancinante, não físico; sofrimento sem natureza ou causa conhecida. São as mulheres que sofrem de depressão, essa estrada noturna e sem fim; sem ponto de chegada e solitária. Descida aos infernos, dizem elas.
A sociedade moderna vem agravando a solidão individual, mais isolando do que agregando os indivíduos. Embora Deus tenha criado Eva para não deixar Adão abandonado à própria sorte, desde os anos 1970, pesquisas na área de psiquiatria revelam que a depressão é a doença mental mais difundida no mundo. Enquanto isso, os consultórios psicanalíticos veem aumentar a clientela de deprimidas.
Segundo especialistas, a manifestação mais severa de perturbação depressiva é a melancolia. Ela rói o espírito e alquebra o corpo. Descoberta por Hipócrates, a melancolia atravessou incólume os séculos, sendo muitas vezes mencionada na poesia e na literatura, até a medicina conferir-lhe o estatuto de patologia. A palavra depressão apareceu recentemente e, tudo indica, foi utilizada pela primeira vez em 1854, pelo alienista J. P. Fairet. Uma forma atenuada de melancolia foi descrita ao longo do século XIX com os nomes de neurastenia, taedium vitae e spleen, sendo cantada em prosa e verso por Baudelaire.
Cobertas de manchas azuis que lhes marcam os braços – as chamadas manchas de melancolia –, as depressivas estão cansadas de ser elas mesmas. São alvo de uma desvalorização narcísica feita, não de culpa, como queria o escritor Marcel Proust, mas de frustrações: “minha vida é um horror, não estou à altura…”. Ontem, o escritor francês queixava-se deste “não sei o quê que ninguém ousa nomear ou definir”. Hoje, como ele, muitas bebem a vida sem sede.
As depressivas recorrem a inúmeros remédios. Qualquer médico pode recomendar antidepressivos, pois, desde os anos 1980, eles se multiplicaram e estão em toda a parte. A tristeza mais passageira, sem maiores danos físicos, incentiva o diagnóstico de depressão. Lutos, dores de amor, fracassos profissionais ou as provas da existência são, hoje, apenas medicalizados. Nessa ótica, muitas mulheres passam de tristes a doentes. Se o inconsciente não tem história, o sofrimento, da melancolia à tristeza, e desta à depressão, já têm sua.
O olhar de piedade que se lança sobre solteiras está completamente ultrapassado. A urbanização, a emancipação das mulheres, as novas tecnologias, o culto ao individualismo e o alongamento da esperança de vida conduziram ao desabrochar das carreiras solo – são elas o inevitável resultado de valores progressistas.
Além dos fatos que hoje incentivam mulheres a serem sós, há aqueles históricos: elas sempre o foram. No passado, como visto, elas eram maioria em muitas cidades e vilarejos. O solteirismo se explicava por dificuldades econômicas, pelo alto custo dos casamentos, pela falta de pretendentes e pela morosidade dos papéis. No período colonial, eram conhecidas como “solteiras do mundo”. Assim aparecem na documentação, cheirando ao ranço preconceituoso da Igreja, que dividia o mundo em casadas e castas. As “solteiras do mundo” não eram nem uma coisa nem outra, sendo livres e, portanto, vistas como “prostitutas”.
No século XIX, mudanças. Com a consolidação da vida burguesa e a valorização do casamento entre as elites, consideravam-se as jovens que não se casavam até 22 anos como “solteironas”. O grupo foi engrossado por milhares de mulheres saídas das classes médias empobrecidas, que tinham de ganhar a vida. Sobreviver era mais vital do que casar. A figura da “solteirona”, da “titia”, daquela “que ficou no Caritó” nasceu nesse momento. A literatura ajudou a consagrar a imagem. Entre elas, havia as “beatas” ou moças velhas: haviam levado uma vida bem-comportada e eram, por isso, merecedoras de respeito. “Cair no barricão” era a expressão pejorativa para designar as com mais de trinta anos, sem atrativos nem vida social. Só adquiriam utilidade quando ajudavam à família. E, na Europa, as duas Grandes Guerras multiplicaram solteiras, uma vez que os homens tombaram nos campos de batalha.
Gilberto Freyre lembra que entre nós elas foram vítimas do patriarcalismo em declínio e das casadas, que abusavam de sua subserviência. Segundo ele: “eram pouco mais do que escravas na economia dos sobrados”. Dependentes economicamente, restringiam-se a atividades domésticas que pudessem ajudar no dia a dia. Sempre nas sombras. A quebra da cafeicultura com a Abolição e, depois, nos anos 1930, levou muitos fazendeiros à falência, impedindo as filhas de “casar-se como se deve”.
Em O amanuense Belmiro, Ciro dos Anjos pinta duas solteironas, irmãs do protagonista: “Pobres manas. Emília é apenas uma esquisita. Mas Francisquinha, perturbada de nascença, vai de mal a pior […] Tiveram que viver sempre na fazenda como bicho do mato, entre o pessoal de serviços”.
Na vida rural, tais mulheres tinham que engolir seu sofrimento. Eram velhos corações repletos de novas feridas. Mas o crescimento da vida urbana, durante a Belle Époque, aumentou a visibilidade das mulheres sós. Elas passaram a estudar, a sair para compras e passeios e se divertir. A industrialização no Sudeste atraiu sua mão de obra, boa e barata. Em 1872, elas perfaziam 76% das classes operárias. Novos postos de trabalho foram criados na prestação de serviços, no serviço público, na burocracia. O aumento da população feminina fez com que a sociedade a mirasse com mais rigor. Na imprensa, nas conversas, culpava-se a mulher que abandonava o lar para ganhar a vida. Até os periódicos comunistas e anarquistas acusavam-nas de frequentar não fábricas, mas “lupanares” – bordéis. A maior liberdade da mulher foi compensada com maior vigilância e preconceito. O desafio era trabalhar, mantendo a reputação impecável!
Não à toa, as revistas batiam na tecla: “O casamento é, para a mulher, como o ar para os pulmões. Uma mulher celibatária é, sempre, uma mulher mais ou menos asfixiada. Nunca se infringe impunemente um preceito de Fisiologia!”, admoestava em 1937 aRevista da Semana, num artigo intitulado “A tragédia das solteironas”.
Nas primeiras décadas da República, o celibato associava-se ao feminismo. E este, à feiura e masculinização. No entender da imprensa da época, quem não era agraciada com beleza física suficiente para se casar vingava-se aderindo aos movimentos de emancipação. Num artigo intitulado “Leilão de moças”, em que se apregoavam os leilões matrimoniais como solução para as feias, a revista Fon-Fon dava um exemplo: “Talvez fosse o único, excelente, maravilhoso meio de acabar de uma vez com as sufragistas, as literatas, as neurastênicas, as cochichadeiras, as beatas, horríveis espécies femininas da classe imensa, descontente, vingativa e audaz das vieilles filles”— moças-velhas, nome que se dava para solteironas.
O medo da mulher inteligente, preparada, da que lia ou escrevia era visível. A emancipação era percebida nos mais diversos setores políticos e sociais como ameaça à ordem estabelecida e ao domínio masculino.
E foi dessas mulheres, por meio da literatura e das bandeiras feministas, que veio a resposta. Em O Quinze, clássico sobre a grande seca no sertão do Ceará, em 1915, Raquel de Queiróz pinta Conceição, a protagonista, como alguém que “dizia alegremente que nascera solteirona”. Na contramão das dependentes, pintadas por escritores, essa é bonita, segura, inteligente e culta. E, na contramão de juristas que valorizavam a proteção oferecida às mulheres pelo casamento, feministas como Maria Lacerda de Moura mostraram que, sob a aparente proteção, havia, sim, prisão, subserviência e obediência. O celibato, defendiam Ercília Nogueira Cobra, Bertha Lutz e outras, era a melhor opção.
“Mulher indivíduo”, como a definia Maria Lacerda de Moura, seria aquela capaz de viver honestamente e longe dos caprichos masculinos. Numa crônica de 1946, Lúcia Miguel Pereira cravava: “sempre houve solteironas, até por vocação; e ainda das que não o foram por vontade própria, muitas viveram satisfeitas, souberam ser úteis, desenvolveram plenamente sua personalidade”.
Hoje, menos obrigadas a se consagrar exclusivamente ao marido e aos filhos, ou à vida doméstica, as mulheres podem investir numa carreira, casar-se, fazer filhos quando querem e, se não estão felizes, divorciar-se. A revolução das comunicações que começou com o telefone, e prossegue no Facebook, contribui a diluir as fronteiras entre o isolamento e a vida social. A cultura urbana adaptou-se aos indivíduos autônomos. Serviços foram criados para o seu bem-estar: lavanderias, salas de ginástica, bares, deliverys de todo o tipo. A longevidade, também, transformou em viúvas aquelas que viveram a vida em casal.
O que faz dessa realidade demográfica um problema social é a busca da felicidade. E a pergunta: mulheres vivem sozinhas porque querem ou porque não têm escolha? Muitas não querem mais ser protegidas, assistidas ou se apoiar em alguém. -Mary del Priore

“Ofélia!, de John Everett Millais.
Fonte: História Hoje
Leia em HCSM
As insanas do Hospício Nacional de Alienados (1900-1939), artigo de Cristiana Facchinetti, Andréa Ribeiro e Pedro F. de Muñoz
– Edição Gênero e Ciências: leituras para um dia de reflexão