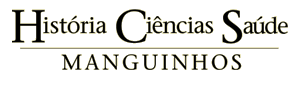Maio/2014
Marina Lemle | Blog de História, Ciências, Saúde – Manguinhos

Lit. Pimenta de Melo & Cia., 1922. IHGB, Rio de Janeiro
Para celebrar os cem anos da independência do Brasil, o governo de Epitácio Pessoa organizou a Exposição do Centenário, realizada no Rio de Janeiro entre setembro de 1922 e julho de 1923. Um sucesso, a exposição atraiu mais de três milhões de visitantes e vários expositores estrangeiros.
O evento apresentou ao mundo um país que caminhava para a industrialização, com a ajuda de imigrantes europeus, que o teriam transformado num lugar mais ‘civilizado’, segundo a elite republicana.
Ao contrário de exposições anteriores, como a Exposição Nacional de 1908, onde figuras indígenas de tamanho natural apareciam em seu suposto ‘habitat selvagem’, a Exposição do Centenário apresentava um ‘tipo brasileiro’ branco e europeizado. Para os eugenistas que tinham voz da época, negros, mulatos, indígenas e caboclos eram obstáculos ao ‘progresso’ – visão registrada no Dicionário histórico, geográfico e etnográfico do Brasil, publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro especialmente para a exposição.
As críticas mais contundentes a esta versão oficial da história do Brasil e à ‘reeuropeização’ do país vieram da esfera artística. Os modernistas criticavam a imitação de modelos estrangeiros na política, na economia e sobretudo na arte, na arquitetura e na literatura. A Semana de Arte Moderna, realizada meses antes, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, não poupou referências às culturas afro-brasileiras e indígenas e, embora tenha durado poucos dias, ocupa até hoje lugar de destaque na memória coletiva. Já a Exposição do Centenário, que durou onze meses, está praticamente esquecida.

Sven Schuster
No artigo História, nação e raça no contexto da Exposição do Centenário em 1922, publicado em História, Ciências, Saúde – Manguinhos (vol. 21, n. 1, jan./mar. 2014), o historiador alemão Sven Schuster aborda os debates sobre conceitos de “raça” e “nação” na época e sua influência na autoimagem nacional.
Schuster é professor da Escola de Ciências Humanas da Universidade de Rosario, na Colômbia, e foi professor visitante na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e na Universidade Federal de Goiás entre 2011 e 2013. Ele respondeu as perguntas enviadas por e-mail pelo blog de HCS-Manguinhos.
A Exposição do Centenário da Independência apresentava o Brasil como um país moderno, com uma “raça” melhorada pelos imigrantes. Antes, porém, a Semana de Arte Moderna expôs obras com referências afro e indígenas. Havia correntes opostas nítidas na intelectualidade brasileira nos anos 1920? Quais as motivações de cada uma e que impacto tiveram na história do país?
Na intelectualidade brasileira das primeiras duas décadas do século XX houve muitas figuras públicas que criticaram a República oligárquica de forma aguda, entre eles o jornalista mulato Lima Barreto, a quem cito no artigo. De todo modo, é impossível falar de “correntes opostas” bem delimitadas nesses anos, pois o pensamento de cada um desses intelectuais estava longe de ser coerente, e também não estavam organizados de maneira constante. Certamente houve pensadores que se destacavam por sua posição crítica frente ao racismo científico da época, como, por exemplo, o jornalista e político Albert Torres, que morreu em 1917. Ao mesmo tempo, porém, emergiram figuras polêmicas como Plínio Salgado, que participou da Semana de Arte Moderna, e mais tarde seria o fundador da Ação Integralista Brasileira, organização de caráter fascista. Em geral, muitos dos participantes da Semana de 22 levariam as suas ideais nacionalistas a posições extremas, na Era Vargas. Nesse contexto, é interessante observar como alguns dos modernistas da época se tornariam colaboradores fanáticos do regime de Vargas nos anos 1930, ou, como demonstra o caso de Salgado, inclusive se aproximariam do fascismo europeu. De forma análoga, isso também aconteceu com outro visitante famoso da Exposição do Centenário, o mexicano Jose Vasconcelos, criador da “raça cósmica”. Nos anos 40, esse propagador da mestiçagem passou a simpatizar abertamente com os nazistas alemães, por exemplo. No caso dos intelectuais brasileiros, essa história de “conversão” foi contada de maneira magistral por Antônio Arnoni Prado no seu Itinerário de uma falsa vanguarda (2010), no qual são revelados os caminhos dispersos de muitos dos participantes da Semana de 22. A absorção desses artistas, literatos e intelectuais modernistas pelo regime de Vargas também pode explicar por que esse evento de apenas uma semana de duração se transformou numa espécie de lugar de memória, se fazendo presente em canções, livros e exposições até hoje em dia. A glorificação dos modernistas foi um elemento central dentro das políticas culturais na Era Vargas. Assim, a “sublevação“ dos jovens modernistas, igual à revolta dos “18 do Forte” no mesmo ano, seria, posteriormente, incorporada à memória oficial do regime, e teve a finalidade de legitimar a queda da “decadente República Velha”. Essa história, por sua vez, foi narrada por Daryle Williams no seu Culture Wars in Brazil (2001). Contudo, vale a pena lembrar que a Semana de 22 causou muita polêmica e rechaço na elite paulista, como fica bem documentado no livro 22 por 22 (2000) de Maria Eugenia Boaventura, enquanto o seu impacto em âmbito nacional foi mais bem limitado. A Exposição do Centenário, por outro lado, teve uma impacto mediático muito maior na época, em parte explicável pela sua duração de quase onze meses. Que este evento seja praticamente esquecido hoje em dia deve-se principalmente às políticas culturais da era Vargas, na minha opinião.
O que o motivou a pesquisar a autoimagem do Brasil?

Lit. Pimenta de Melo & Cia., 1922.
IHGB, Rio de Janeiro
Na verdade, o meu artigo sobre a Exposição do Centenário deriva de um projeto mais amplo. No começo, eu estava pensando em escrever um livro sobre a participação do Brasil nas exposições universais entre 1862 (Londres) e 1929 (Sevilha), com a finalidade de mostrar as diferenças na construção de uma autoimagem nacional entre o Império e a República. O modelo para esse projeto era o trabalho maravilhoso e até agora não igualado de Mauricio Tenorio Trillo sobre o México nas exposições universais dos séculos XIX e XX (Mexico at the World‘s Fairs, 1996). Porém, logo percebi que um estudo tão abrangente era impossível no caso do Brasil, e por isso me limitei ao Império, ou seja, ao período de 1862 a 1889. Portanto, o artigo sobre a Exposição do Centenário não faz parte do meu livro, cujo manuscrito entreguei em março deste ano. O livro conta com mais de 400 páginas, e acho que vai ser o estudo mais completo sobre a participação do Brasil nas exposições do século XIX, até agora. Trabalhando sobre o tema, também entendi que um enfoque na dimensão visual e performativo desses eventos era indispensável. Falando na construção de uma autoimagem nacional, simplesmente tive que levar a analise dessa “imagem” a sério, me concentrando no impacto público dos objetos e imagens expostos em Londres, Paris, Viena e Filadélfia, algo que não tinha sido feito até agora, salvo algumas exceções. Infelizmente, ainda não dou nenhuma relevância à análise da dimensão visual no meu artigo sobre a Exposição do Centenário, cujo enfoque está exclusivamente nos congressos científicos que tiveram lugar nos moldes do evento, e os quais eram importantes espaços transnacionais para discutir a importância da História e da raça na construção da nação. No fundo, tratava-se de definir quem deveria ser incluído e excluído da “nação moderna“, aspirada pela elite da Primeira República.
Neste contexto, vale a pena lembrar que desde a primeira Exposição Universal em Londres (1851) até a Exposição Universal de Paris (1900), que contava com aproximadamente 50 milhões de visitantes, vários países latino-americanos participaram desses eventos massivos, cujo impacto público não foi alcançado por qualquer outro meio da época, de acordo com o historiador alemão Jürgen Osterhammel (Die Verwandlung der Welt, 2008). Já bem cedo, países como o México, a Argentina, o Peru e o Brasil manifestaram o seu interesse em participar das “feiras internacionais do progresso”, a fim de mostrar o seu nível de “civilização” perante o mundo “desenvolvido”. Na crescente literatura sobre as representações nacionais dos países latino-americanos nas exposições fica evidente que em nenhum momento se tratava de dar um retrato fiel das realidades sociais, culturais e econômicos. Os organizadores desses eventos, os “magos do progresso” nas palavras de Tenorio Trillo, estavam mais interessados em definir como a sua “nação moderna” deveria ser e como poderia ser posta em cena da maneira efetiva. Em estudos recentes, por conseguinte, podemos observar um foco cada vez mais predominante na dimensão visual e performativa desses eventos. Assim, as exposições universais representam uma espécie de prisma no qual podemos ver a imaginação nacional forjada na segunda metade do século XIX de forma condensada.

Baía de Guanabara. Foto de Augusto Malta. Álbum da cidade do Rio de Janeiro: commemorativo do I. Centenário da Independência do Brasil – 1822-1922. Bib. Nacional Digital
De uma maneira geral, as imagens projetadas nas salas e pavilhões das exposições giravam em torno de três ideais: progresso, civilização e raça. Esses também são os eixos temáticos que estou analisando no meu livro, que espero poder traduzir para o português, em breve. Neste sentido, já muito antes da Exposição do Centenário, as elites brasileiras usaram as exposições universais para promover seus produtos manufaturados, dar a conhecer o seu potencial natural, incentivar a imigração de colonos europeus – muitas vezes, a fim de “melhorar a raça” – e para visualizar a sua capacidade de “se civilizar”, ou seja, indicando a possibilidade de se transformar numa espécie de “Europa tropical” nas décadas vindouras. De todo modo, tratava-se de processos de negociação e transculturação, e não tanto da imposição forçada de um modelo eurocêntrico. Sempre houve espaço no nível visual e performático para construir imagens da nação que incluíam elementos de modernidade e elementos autóctones ao mesmo tempo. Isso também explica a grande importância do indianismo nas exposições do Império brasileiro, por exemplo.
O que falta aprofundar nessa área e por quê?
Em futuros estudos sobre a participação dos países latino-americanos nas exposições universais será necessário indagar mais sobre a função social, a percepção e a apropriação de imagens do próprio e do alheio. Também temos que saber como essas imagens foram usadas para legitimar certos modelos políticos e como foram integradas em discursos nacionalistas. Além disso, seria importante entender melhor as conexões transversais entre o poder político, as exposições, a mídia e a ciência (em primeiro lugar, a antropologia, a arqueologia e a história). Finalmente, é preciso pesquisar sobre um fenômeno bem particular nas apresentações de muitos dos países latino-americanos que participaram das exposições universais do século XIX. Trata-se da construção de uma espécie de “antiguidade latino-americana“, a qual tem sido fundamental no processo da formação do Estado-nação oitocentista. Assim, nas seções etnográficas das exposições frequentemente foram mostrados objetos pertencentes às culturas indígenas “pré-históricas”, enquanto esses indígenas “nobres mas extintos” foram desvinculados de maneira artificial dos indígenas ainda existentes nos territórios nacionais.

Vista Chinesa. Foto de Augusto Malta. Álbum da cidade do Rio de Janeiro: commemorativo do I. Centenário da Independência do Brasil – 1822-1922. Biblioteca Nacional Digital.
De fato, países como a Argentina, o Brasil e o Chile eliminaram grandes partes da sua população indígena nessa mesma época, ao passo que colocaram indígenas idealizados e europeizados nas vitrines e dioramas das exposições. A finalidade era a construção de uma “antiguidade americana” para se legitimar perante os países europeus, ou seja, a criação de um núcleo mítico da própria cultura, que num sentido teleológico seria o resultado de um longo processo histórico. Neste contexto, os congressos nos moldes das exposições podem ser fontes muito reveladoras, porque neles os cientistas e intelectuais da época trataram de definir o valor “histórico” dessas culturas “ancestrais”, enquanto os afro-americanos foram geralmente excluídos de tais debates e visualizações. Nesse sentido, a Semana de 1922 realmente representou um hiato histórico, ao fazer referência às contribuições das culturas africanas de maneira explícita. Devido à pouca pesquisa existente sobre esta temática, estou atualmente trabalhando sobre as seções etnográficas nas grandes exposições universais do século XIX, com ajuda de um grupo de estudantes da Universidad del Rosario, na Colômbia. No grupo de pesquisa “Cultura Visual e História Global” tentaremos nos aprofundar esses aspetos nos próximos anos, também analisando a pouca estudada participação de países como a Bolívia, o Equador, a Guatemala, o Chile, o Peru e a Colômbia nas exposições universais do século XIX. Achamos que a análise dessas imagens vai nos ajudar a entender uma das facetas mais importantes e menos compreendidas dos nacionalismos latino-americanos: a transformação do indígena “europeizado” em alegoria nacional perante um público internacional, ao lado da destruição das culturas autóctones existentes. Com certeza, as exposições universais são o espaço ideal para poder traçar e compreender este fenômeno.
Leia em História, Ciências, Saúde – Manguinhos:
História, nação e raça no contexto da Exposição do Centenário em 1922 – Artigo de Sven Schuster (vol. 21, n. 1, jan./mar. 2014)
Acesse este número da revista:
Veja ainda:
Álbum da cidade do Rio de Janeiro: commemorativo do I. Centenário da Independência do Brasil – 1822-1922 – Disponível em PDF na Biblioteca Nacional Digital.
Como citar este post [ISO 690/2010]:
Brasil, 1922: independente, civilizado e branco?. Entrevista de Sven Schuster a Marina Lemle. Blog de História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Disponível em: http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/brasil-1922-independente-civilizado-e-branco/