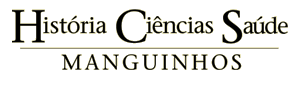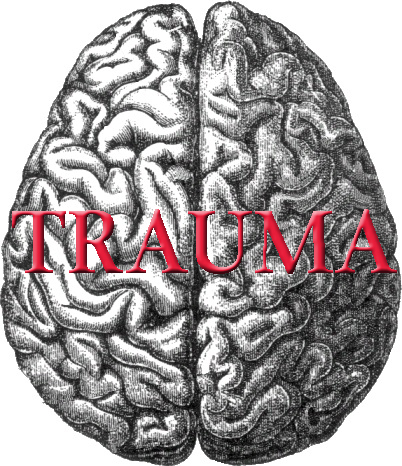Janeiro/2014
Por Nicolau Ferreira
É a primeira sistematização da censura de livros médicos pela Inquisição em Portugal – um dos casos expurgados foi o de uma freira que se dizia ter engravidado no banho. Está também em marcha um inventário dos livros de ciência nas bibliotecas dessa altura. O lugar deste objecto na cultura científica nacional começa a ser desvendado
O “lápis” da censura nos séculos XVI e XVII era a tinta ferrogálica. Se estivesse muito concentrada, a tinta utilizada na expurgação de uma obra podia queimar o papel. Se fosse em menor quantidade, as palavras censuradas voltavam a ser legíveis. De qualquer forma, esta vertente da Inquisição afectava a leitura das obras, dando-lhes uma conotação insidiosa de pecado e culpa. A literatura técnica e científica em Portugal não escapou a este controlo, como os livros de Amato Lusitano, médico judeu português que fugiu da Península Ibérica.
“Qualquer expurgação perturba a confiança na leitura de livros de ciência – um acto que passa pelo desejo de querer saber mais”, defende Hervé Baudry, do Centro de História da Cultura da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. O efeito que a censura teve no desenvolvimento científico e cultural do país é ainda difícil de contabilizar, diz o historiador francês, orador num workshop sobre as bibliotecas e livros científicos dos séculos XV a XVIII na Biblioteca Nacional, em Lisboa. Mas Hervé Baudry está apenas no início de um projecto de investigação sobre aquilo a que chama de “biblioteca limpa”, ou seja, a expurgação de livros dos séculos XVI e XVII.
O francês analisou a censura em 105 exemplares de cinco obras de medicina, que estão em bibliotecas do país, e sistematizou a forma como decorreu a censura da Inquisição, um trabalho inédito em Portugal. As obras analisadas eram de quatro autores: os portugueses Amato Lusitano e Gonçalo Cabreira, cirurgião contemporâneo de Lusitano, e dos espanhóis Andrés Laguna, médico humanista que se dedicava especialmente à farmacologia e botânica, e Oliva Sabuco, filósofa e médica.
“Essa censura foi eficaz, sistemática, tinha um lado rotineiro”, explica. Os responsáveis pela expurgação não se viam como “donos” dos livros que “limpavam”, seguiam uma lista de passagens proibidas.
Assim, nos textos médicos apareciam riscadas datas judaicas, casos médicos sobre sexualidade na Igreja ou dizeres que acompanhavam receitas medicinais tradicionais. “A censura é a resposta técnica, formal [da Inquisição] ao crescimento enorme do livro como veículo da heterodoxia”, salienta Hervé Baudry.
Na segunda metade do século XV foram impressos na Europa entre 15 a 20 milhões de livros. No século seguinte, este valor multiplicou-se por 10. Apesar de os autos-de-fé serem os rituais mais conhecidos da Inquisição, e o seu lado mais sangrento, em que “hereges”, desde judeus a sodomitas, eram mortos na fogueira, a censura livresca era intensa.
Havia listas de livros de autores proibidos, mas também havia o Índex Expurgatório, onde passagens de muitos outros livros deviam ser cortadas. Entre elas estavam as obras de Amato Lusitano, Sete Centúrias de Curas Medicinais e Matéria Médica de Dioscórides; de Gonçalo Cabreira, Tesouro de Pobres; outra de Andrés Laguna, Pedacio Dioscorides; e a quinta de Oliva Sabuco, Nueva Filosofia de La Naturaleza del Hombre. “Nas bibliotecas, quando estas obras foram publicadas e lidas cá nos séculos XVI e XVII, foram todas controladas. Quem lia sabia que estava a entrar em terreno minado”, diz o investigador, considerando que um dos efeitos era um clima de medo psicológico na sociedade.
O impacto que a expurgação teve na cultura científica portuguesa é difícil de avaliar. É preciso ver livro a livro. A obra Sete Centúrias de Curas Medicinais, onde o famoso médico português relatou casos de medicina, é o exemplo de um livro bastante censurado.
Amato Lusitano era judeu, estudou em Espanha e teve de fugir da Península Ibérica para manter a sua fé. Nas Centúrias, as datas hebraicas foram cortadas. Há casos médicos sobre sexualidade descritos por Amato Lusitano que são censurados só por estarem associados à Igreja, explica Hervé Baudry. Um exemplo de uma passagem totalmente expurgada listada no Índex dizia respeito a uma freira grávida. “Uma freira, daquelas que vivem em religião longe da multidão, sentia-se mal, dizendo que alguma coisa se mexia na barriga dela. (…) Na realidade, esta mulher engravidara de sémen viril depois de ter ficado no banho”, lê-se no original.
Noutro caso, que Hervé Baudry diz não estar nas listas oficias de expurgação, é censurado o comentário de Lusitano sobre a gravidez entre duas mulheres. Mas a narrativa do caso em si não está riscada: “Duas mulheres turcas vizinhas, em virtude de muitos actos de coito, íncubos e súcubos, contaminavam-se e poluíam-se. Uma era viúva e a outra tinha marido. (…) Neste trabalho do coito e abraços, o útero da viúva súcuba sorveu (…) não só o sémen da mulher íncuba, mais ainda algum sémen viril deixado antes no útero dela. Em virtude deste sémen ficou prenhe.”
Os efeitos directos na discussão científica da época deste tipo de censura não são certos. Os livros que Hervé Baudry estudou só diziam respeito a casos médicos, mas o historiador argumenta que é impossível a censura não alterar a sociedade, principalmente ao durar séculos, mas é necessário estudar as obras de outras disciplinas, como a Física, a História Natural ou o Direito, para ter uma visão global.
Há, por outro lado, textos que não foram tocados. É o caso da obra emblemática De revolutionibus orbium coelestium, de Nicolau Copérnico, onde o astrónomo polaco expõe, em 1543, a teoria heliocêntrica (na época, a Igreja defendia que era o Sol que girava à volta da Terra).
Os exemplares desta obra em Portugal e na Europa, diz o historiador de ciência Henrique Leitão, não apresentam actos de censura. “As obras que eram muito pouco consultadas, por serem muito técnicas e só estarem acessíveis aos especialistas, muitas vezes não apresentam as expurgações exigidas”, infere o investigador, do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT) de Lisboa e um dos organizadores doworkshop.
O inventário dos inventários
Sabe-se muito pouco sobre a cultura científica portuguesa dos últimos 500 anos, por que é que a sua produção foi escassa e sem nomes proeminentes, com excepções como a do matemático Pedro Nunes. A análise do lugar do livro científico permitirá compreender essa situação. “O livro tem um papel absolutamente central no estabelecimento da cultura científica. Não só acumula como transmite informação. Serve como ponto de junção de pessoas, catalisa fenómenos sociais”, explica Henrique Leitão.
Na conferência, o investigador falou do livro científico em Portugal, partindo de um “paradoxo”: a obsessão historiográfica em tentar compreender as causas do falhanço de Portugal em alcançar a modernidade, ao mesmo tempo que neste esforço a história da ciência é ignorada, uma falha que o investigador tenta colmatar. “Não há nenhuma noção de modernidade que não passe pela ciência. Acho estranho que os historiadores andem em torno da questão da modernidade e depois não liguem à ciência. ?? um paradoxo da historiografia portuguesa.”
Henrique Leitão e Luana Giurgevich, investigadora italiana também do CIUHCT, estão a finalizar a primeira etapa do levantamento de todos os livros nas bibliotecas portuguesas desde o século XVI até 1834, quando foram extintas as ordens religiosas masculinas. Estas bibliotecas, cujos catálogos foram um instrumento-chave de pesquisa, pertenciam principalmente a mosteiros e conventos. Nalgumas, os catálogos foram feitos por vontade própria, a maioria foi uma exigência do Marquês de Pombal. Quase todos os livros estão perdidos, mas saber o que existia em cada sítio pode ajudar a revelar os círculos da cultura científica portuguesa e pode ajudar a perceber por que é que a modernização falhou.
“Nas colecções da Biblioteca Nacional, reparámos que os exemplares tinham marcas de posse de antigos conventos”, diz-nos Luana Giurgevich. Foi assim que nasceu esta ideia de fazer “um inventário dos inventários” destas colecções, até agora inexistente, para “saber os hábitos de leitura” e ver “que tipo de ciência está associada a que tipo de ordem”.
Ainda preliminares, os resultados (que serão publicados pela Biblioteca Nacional) indicam que haveria, nas 200 bibliotecas alvo da pesquisa, centenas de milhares de livros entre os séculos XVI e XVIII. A biblioteca do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, com cerca de 16.000 volumes, era das mais recheadas.
Os livros científicos podiam chegar entre 8 a 10% de algumas colecções. Noutras eram praticamente ausentes. Mas este trabalho mostrou que a maioria dos livros de ciência do século XVI existia em Portugal. O seu uso é desconhecido.
“Temos de fazer a radiografia dos grandes coleccionadores de livros científicos”, diz por sua vez Henrique Leitão, recém-eleito membro efectivo da Academia Internacional de História das Ciências. “Até agora, o trabalho [na história de ciência] foi a análise de texto. Mas é muito interessante estudar as práticas de leitura. Quem eram os coleccionadores de livros? Quem os lia? Como é que os arranjava? Tem de se passar dos textos para as instituições e para prática a nível social.”
Naquela altura, surgiram grandes pensadores, gente que revolucionou a ciência como Isaac Newton. Ao contrário de Portugal, é conhecida a cultura científica da Real Sociedade de Londres na altura, quando Newton publicou o seu Principia em 1687, onde enunciou as três leis da mecânica clássica.
“Na Real Sociedade de Londres, um grupo de cavalheiros reunia-se para fazer experiências”, conta ao PÚBLICO outro orador no workshop, o britânico Adrian Johns, da Universidade de Chicago, nos EUA. “Era a primeira vez que um grupo de pessoas se intitulava filósofas experimentais e utilizava consistentemente a filosofia para chegar a uma prática experimental”, diz o historiador de ciência.
Esses cavalheiros alimentavam as suas experiências científicas com leituras e discussão constantes. Em reuniões debatiam as leituras, os resultados das experiências e propunham novos procedimentos experimentais. “Estes protocolos de leitura não eram naturais, tinham de ser aprendidos e deram origem a uma investigação científica contínua”, diz o britânico. Do pouco que se conhece, o cenário seria muito diferente por cá. “Não vemos verdadeiras discussões científicas”, diz Henrique Leitão. “Rapidamente se tornavam em picardias pessoais e o conteúdo científico perdia-se.”
Para o historiador português, este problema passa pela “fragilidade das instituições científicas”, em que uma educação de má qualidade tem um efeito “devastador” na ciência e na modernidade: “Há um conjunto complexo de questões que tem de ser estudado aos poucos. Vamos tentar perceber este problema secular. Não pode ser uma razão conjectural, vemo-lo hoje, asperformances das universidades portuguesas são uma vergonha, excepto honrosas excepções.”
Fonte: Público (Portugal)