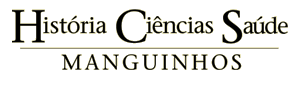Julho/2023
ENTREVISTA | MARIA PAULA MENESES
Por Marina Lemle | Blog de HCS-Manguinhos

Maria Paula Meneses
O colonialismo moderno, através de uma racionalidade antropocêntrica, buscou se impor à natureza, coisificando-a, e subjugou os saberes dos africanos na sua relação com a terra. Para orientar relações capazes de “adiar o fim do mundo”, Maria Paula Meneses (foto), pesquisadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal, propõe uma “ecologia de saberes”.
A partir dos seus estudos sobre a África Austral, a antropóloga moçambicana vai apresentar alternativas positivas que nos permitem ter esperanças na próxima terça-feira, 11/7, às 9h, no XVIII Congresso RedPOP 2023, que será realizado na Fiocruz, no Rio de Janeiro, de 10 a 16 de julho.
A pesquisadora defenderá que na base de uma ecologia que garanta sustentabilidade ambiental está a valorização da diversidade e especificidade de saberes, em diálogo com a ciência. “Este é um processo em que é importante reconhecer a nossa ignorância, aceitar ser capaz de aprender com outras estruturas teóricas, com outros contextos, para descolonizar e libertar as nossas mentes”, afirma Maria Paula Meneses nesta entrevista que gentilmente concedeu por e-mail ao Blog de HCS-Manguinhos.
 Com o tema “Vozes Diversas: diálogo entre saberes e inclusão na popularização da ciência”, o Congresso RedPOP 2023 reunirá divulgadores da ciência, educadores, jornalistas, museólogos, pesquisadores, artistas e o público interessado na popularização da ciência.
Com o tema “Vozes Diversas: diálogo entre saberes e inclusão na popularização da ciência”, o Congresso RedPOP 2023 reunirá divulgadores da ciência, educadores, jornalistas, museólogos, pesquisadores, artistas e o público interessado na popularização da ciência.
“É urgente recriar um holismo de saberes que ligue as ciências a estruturas mais amplas de conhecimento, para apreender um significado mais pleno de dignidade”, enfatiza a professora.
Boa leitura!
Blog de HCS-Manguinhos – No resumo da sua apresentação, a senhora afirma que opções políticas ambientais contemporâneas teriam resultado de uma relação colonial-capitalista que levou à ‘coisificação’ da terra e da natureza. Poderia dar exemplos destas políticas atuais e suas origens coloniais?
Maria Paula Meneses – A questão passa por uma análise situada das experiências da colonização moderna. Aqui estou-me a referir à subalternização e às tentativas de silenciamento e aniquilamento de outros seres e dos seus saberes. Quando uma forma de conhecimento, independentemente da sua origem, procura se impor como ‘a forma’ universal de conhecimento (caso da ciência), estamos perante uma interpretação monocultural e hierárquica da diversidade de saberes e formas de ser que existem no mundo. Esta lógica exclusivista é um dos traços característicos da modernidade em que vivemos, cujas referências epistêmicas se situam no Norte global. Este processo assenta no reforço permanente de uma hierarquia intelectual, onde as ‘suas’ (pois que muitos saberes foram apropriados pelo Norte) tradições culturais e intelectuais são impostas como o cânone, autodefinidas como superiores porque supostamente mais desenvolvidas.
No caso do moderno colonialismo, que marca o território que é Moçambique a partir da segunda metade do século XIX, a alteridade expressou e expressa ainda um espaço/tempo anterior, onde circula(va)m saberes considerados ‘inferiores’, com alcance meramente local, marca de uma ciência do ambiente marcadamente excludente. A ocupação colonial de Moçambique assentou na transformação das populações africanas em objetos de intervenção das políticas coloniais, sujeitos sem direitos, desumanizados, ao mesmo tempo que as suas terras foram apropriadas por colonos. A ocupação dos territórios e das mentes pela educação colonial são fatores que ainda hoje continuam a marcar a nossa realidade. E é assim que nos transformamos no terceiro mundo, ou no Sul global,[1] uma referência metafórica aos saberes (e seus produtores) que foram silenciados, localizados ou destruídos. Será o estudo dos solos como ensinado nas faculdades das modernas universidades um saber universal?
No contexto de Moçambique, a subjugação dos africanos e sua relação com a natureza pelas modernas potências colonizadoras, assentou numa racionalidade marcadamente antropocêntrica, com origem na dicotomia sociedade-natureza. A explícita dicotomia natural-social está na base de muitas destas políticas ambientais contemporâneas, políticas essas que assentam na aparente universalidade do moderno conhecimento científico; porém, muitas são as culturas no mundo que não reconhecem esta dicotomia.
Um tema importante a discutir em relação ao ambiente tem a ver com as línguas que transportam saberes. A língua molda a forma como pensamos e compreendemos o mundo, e as línguas imperiais, como português, espanhol, francês, inglês, são reflexo de contextos imperiais. Agora, e especialmente a partir da segunda metade do século XX, o inglês tem sido a forma dominante de comunicação do conhecimento no domínio da ciência, o que pode levar a preconceitos de publicação contra cientistas cuja língua materna não é o inglês. Com efeito, o que conceitualziamos como conhecimento ecológico é produzido e testado em múltiplas línguas. Por exemplo, a separação entre o eu racional (cultura) e a natureza no pensamento em português é um resultado da racionalidade moderna enquanto processo histórico, e é sociológica e cultural, não empírica. Em contrapartida, a natureza é relacional em muitas outras línguas. Por exemplo, a palavra de raiz xiTsonga para o ambiente é difícil de traduzir para português. Ntumbuluko significa tanto criação, como natureza. A implicação é que as pessoas (abantu) estão localizadas dentro do ambiente.
Os detentores de conhecimentos precisam muitas vezes de falar na sua própria língua para descrever com exatidão os conceitos e classificações usados na proteção do ambiente: a utilização de várias línguas pode produzir descrições mais ricas. É aqui que importa refletir sobre a ecologia de saberes, no centro das Epistemologias do Sul, que reconhece a centralidade de nos envolvermos com diferentes vozes, línguas, saberes, indo além de simples dualismos para fazer a diferença em relação ao que foi inicialmente pensado; não para que passemos a pensar da mesma forma, mas para que pensemos de forma diferente da que tínhamos pensado antes do nosso envolvimento. Este é um processo em que é importante reconhecer a nossa ignorância, aceitar ser capaz de aprender com outras estruturas teóricas, com outros contextos, para descolonizar e libertar as nossas mentes.
A falta de interesse pela ética ambiental presente na África Austral tem tido efeitos profundos na forma como os seus portadores são valorizados. Figuras importantes aos métodos tradicionais de conservação, como os ‘fazedores de chuva’, os ‘herbalistas’, os ‘curandeiros’, ou os ‘guardiões das florestas’ são substituídas pelos especialistas, como ‘biólogos marinhos’, ‘climatologistas’, ‘botânicos’, etc. Esta profissionalização especializada dos processos de conservação separa o homem de sua humanidade o que, no contexto africano, se traduz na sua separação do ambiente natural e da vida selvagem.
Reconhecendo a diversidade de pessoas e saberes que constituem atualmente a comunidade de investigação ambiental, é necessário que mais sábios, e não apenas ‘acadêmicos’, reflitam sobre as consequências da permanência de um pensamento colonial. Não é possível compreender os organismos e os ecossistemas sem as histórias que os compõem, despojados das histórias humanas de relações sociais, econômicas e ontológicas desiguais que os conformam e caracterizam. Estas histórias de desigualdade e opressão continuam a moldar o funcionamento da Terra. Uma abordagem que continua a centrar a compreensão do mundo apenas a partir da ciência restringe o campo de busca de soluções e limita a nossa capacidade para enfrentar as crises ambientais, porque não reconhece a diversidade de pessoas, sistemas de conhecimento e soluções.
Nos tempos que correm, a descolonização envolve a consciência do radicalismo epistêmico como um instrumento para navegar no mundo, em contextos plurais. Significa que precisamos de nos traduzir para o Norte, para além dos projetos utópicos de mudança política radical propostos. Traz de volta a urgência de os países do Norte global descolonizarem a sua história e reconhecerem as múltiplas agências políticas africanas, com instituições sofisticadas, com ligações cosmopolitas para além do legado da biblioteca colonial moderna.
Neste sentido, há que refletir sobre a origem dos conhecimentos que estão na base dos estudos sobre ecologia, clima, etc, conhecimentos que foram utilizados para justificar o controle social e ambiental, incluindo a expropriação dos povos colonizados das suas terras e a negação dos seus modos de vida, assim como a desvalorização dos sistemas de conhecimento existentes. Este fato beneficiou as indústrias coloniais, como a do açúcar ou do algodão, que foram fundamentais para o surgimento da ordem mundial moderna e a violência contínua de um sistema econômico global – a economia das plantações – baseado no extracionismo. Neste sistema, quer as pessoas, quer a terra são percebidos como objetos, como coisas, com valor de mercado, que podem ser transacionadas. Assim se explica a escravidão e o trabalho forçado.
Um outro exemplo: é paradoxal que o continente africano, embora seja atualmente responsável por uma quantidade insignificante do total das emissões globais de gases com efeito de estufa, esteja sob ameaça das alterações climáticas. É disso exemplo o número de violentos furações que têm atingido Moçambique nos últimos anos, com impactos significativos, pelo número de vítimas humanas, seja em termos de destruição de infraestruturas etc. A crise das alterações climáticas suscita, pois, um receio crescente, uma vez que a África é particularmente vulnerável às alterações climáticas e as mudanças nos e as alterações nos níveis de precipitação, o provável aumento dos extremos de temperatura e a subida do nível do mar terão impactos diretos e indiretos em África. E uma vez que vastas regiões do continente africano têm contribuído muito pouco para o aquecimento global, é altura de questionar os ‘responsáveis’ pelas políticas ambientais, tendo em atenção as políticas de reparação em relação à violência colonial.
Blog de HCS-Manguinhos – A senhora explica que enquanto a filosofia africana do ubuntu baseia-se numa relação íntima e coletiva entre a humanidade e a natureza, a ideologia colonial acredita que para as sociedades se modernizarem e se ‘civilizarem’ seria fundamental romper essa ligação, de forma que o indivíduo – o cidadão – possa dominar a natureza. Quais as consequências dessa visão política?
Maria Paula Meneses – Com a crise ambiental uma realidade presente, este é um momento importante para falar de alternativas com esperança. A crise ambiental, e a incapacidade de as várias reuniões internacionais de encontrarem soluções diversas, mas conjugadas, é a própria expressão da vulnerabilidade do sistema colonial-capitalista em que vivemos, para quem as experiências e vivências a Sul não contam. Como resgatar o significado do Sul global emancipatório?
Do ponto de vista da história recente do pensamento crítico, há dois grandes acontecimentos que nos interpelam. Por um lado, o Norte global já não é o centro de gravidade geopolítica do mundo; e sentindo-o, procura violentamente manter o mais possível a sua posição. Contra esta maré neocolonial, percebemos a força mais forte e premente da descolonização, vista como um movimento amplo, com contínuos movimentos migratórios de pessoas e ideias. É fundamental a colaboração de acadêmicos, sábios, ativistas de locais afetados no Sul Global no sentido de desfazer os sistemas de opressão que marcam o nosso mundo, um passo fundamental para aprofundar os processos de descolonização.
Assim, importa analisar criticamente o nosso tempo, identificando o impacto da violência colonial, e, num segundo momento, tentar procurar aprofundar diálogos interculturais com os contributos do Sul Global para pensar o nosso futuro presente. Aqui há que pensar entre o ‘indivíduo’ que compõe a sociedade moderna, como projeto, e que supostamente não tem história, e a noção de pessoa, como expressão relacional. Existo porque somos, porque nos reconhecemos, porque pertencemos a uma história que nos une geracionalmente. É assim que a filosofia africana do ubuntu afirma a relação íntima e tendencialmente coletiva entre a humanidade e a natureza; já a ideologia política colonial assentou na defesa do argumento de que para as sociedades para se modernizarem e ‘civilizarem’ era fundamental a ruptura da interligação entre a humanidade e a natureza, para dominar a natureza através do ser civilizado, individual – o indivíduo.
A noção europeia de cidadania emerge na Europa imperial conjugada com os direitos individuais dos que acediam então ao mundo dos contratos sociais, relegando ao ‘estado da natureza’, ao ‘outro’ lado da linha abissal, o mundo das colónias, apresentado como atrasado e habitada por sub-humanos, com pouco ou nenhum conhecimento valioso. Este processo, para além de gerar o eurocentrismo, converteu a simultaneidade da existência desses mundos em não-contemporaneidade, criando o que Boaventura de Sousa Santos descreve como a cartografia abissal do mundo moderno.
É assim que se perpetua a o não reconhecimento dos seres e dos saberes que (re)existem nos territórios, submetidos a opressão, o Sul global. Neste contexto, o Sul global refere-se metaforicamente aos seres e saberes que foram silenciados, localizados ou destruídos fruto da relação violenta, do capitalismo e do colonialismo sobre ‘a alteridade’.
Em termos ambientais, o pensamento abissal afirma-se pela distinção entre a ‘história científica’ europeia, assente na erudição e na filologia, e a história mitológica extra-europeia, dos territórios sob colonização, habitados por selvagens que precisavam ser civilizados, retirados do estado de natureza. Estes processos de intervenção política e epistemológica violenta resultaram na suspensão do crescimento orgânico das instituições e dos saberes dos colonizados. Por isso, os movimentos que integram lutas ambientalistas no Sul global lutam quer por ver o seu saber e experiência reconhecidos, quer pela preservação dos seus territórios. Esta distinção entre o Sul e o Norte global é fundamental.
A subjugação dos africanos e sua relação com a natureza pelas modernas potências colonizadoras, assentou numa da racionalidade marcadamente, assente numa perspectiva dicotômica. Desta posição epistêmica, não só a sociedade e a natureza são concebidas como entidades separadas, como contestam radicalmente as cosmologias africanas, para quem a humanidade, a natureza e o mundo dos espíritos ancestrais formam uma unidade. Pelo antropocentrismo, ao afirmar-se a prioridade e centralidade do social na ordem do mundo, foi possível dominar a natureza. Em paralelo, através da criação arbitraria da dicotomia sociedade-natureza, silenciaram-se e subalternizaram-se outros saberes, outras cosmologias.
Por exemplo, entre os Karanga do Zimbabué e do centro de Moçambique, a terra é considerada uma dádiva especial dos antepassados. Todos os produtos da terra, quer sejam campos cultivados, árvores ou animais, emanam dos espíritos que são os detentores da terra. Os principais produtos alimentares, como o milho, o amendoim, a mandioca, são interpretados como uma dádiva dos antepassados. Este conhecimento camponês é apoiado por pedagogias coletivas, baseadas na proposta filosófica do ubuntu. Assumindo o movimento e a relação recíproca como categoria ontológica e epistemológica fundamental, a existência é entendida como “eu sou porque nós somos”. Essa proposição baseia-se na flexibilidade orientada para o equilíbrio e a harmonia na relação entre os seres humanos e entre os últimos e os ancestrais e a forma mais abrangente do ser ou a natureza.
A ligação íntima entre animais e humanos é um traço presente em várias cosmologias africanas. No sul de Moçambique, entre os Tsonga, quem fizer mal ou levar ao desaparecimento de um animal é percebido como tendo potencialmente um efeito análogo na comunidade que porta o nome do animal. De fato, aqui, o sistema de parentesco assenta no respeito pelos animais que são os tótemes de cada comunidade/clã (muti). Em muitas partes da região austral do continente, o nome das comunidades deriva de identificações com animais selvagens. Esta partilha de nomes estimula um senso de afinidade entre humanos e os animais selvagens, identificando simbolicamente as parecenças pessoais e sociais com as características de um determinado animal. Neste contexto, os animais – quer selvagens, quer domesticados – servem como emblemas da humanidade. Se um animal é comível, sobre a muti que leva o nome recai a proibição de consumi-lo, sinal de um respeito coletivo pela conservação dessa espécie. Esta riqueza do conhecimento do ambiente é revelada através de mitos, canções, histórias e provérbios usados na região. Igualmente, através da comunicação oral reforçam-se as ligações entre os habitantes humanos e naturais, entre os vivos e os espíritos. Para as comunidades rurais Tsonga, a terra representa a reconexão com o mundo presente e o dos antepassados, pois que estes atores são percebidos como ‘forças tutelares’ do grupo, garante da sua continuidade. Nesta região, entre os elementos simbólicos que estruturam esta relação estão as ‘florestas proibidas’ – ‘mintimu’ –, pousio dos espíritos, onde estão enterrados os antepassados. A invasão destes territórios sagrados é castigada pelos espíritos guardiões.
Como Mogobe Ramose destaca, a conceitualização do ubuntu espelha uma relação íntima entre o social, o natural e o espiritual. Porém, enquanto a filosofia africana do ubuntu afirma a relação íntima e tendencialmente coletiva entre a humanidade e a natureza, a ideologia política colonial assentou na defesa do argumento de que para as sociedades para se modernizarem e ‘civilizarem’ era fundamental a ruptura da interligação entre a humanidade e a natureza e a coisifcação desta última, com valor de mercado.
Blog de HCS-Manguinhos – Na sua pesquisa sobre a África Austral, a senhora enfoca a diversidade e a especificidade de saberes que, em diálogo com a ciência, estão na base de uma ecologia de saberes e garantem a sustentabilidade ambiental. Poderia dar exemplos?
Maria Paula Meneses – As comunidades camponesas, indígenas, têm sobrevivido aos processos de colonização e à violência dos projetos dos modernos Estados, que procuram assimilá-los ou mesmo eliminá-los territorial, física, epistêmica, cultural e linguisticamente. Resistindo tenazmente aos persistentes episódios de violência, os saberes destes grupos têm sido fundamentais para recuperar e assegurar a sobrevivência do mundo. Estes saberes apoiam-se em pedagogias coletivas, como é exemplo a proposta filosófica do ubuntu, defendida por vários filósofos africanos. Assumindo o movimento e a relação de reciprocidade como a categoria ontológica e epistemológica fundamental, a existência é entendida como ‘ser-sendo’. Esta proposta assenta numa flexibilidade orientada para o equilíbrio e para a harmonia no relacionamento entre seres humanos, e entre os últimos e o mais abrangente ser-sendo ou natureza.
A centralidade da relação recíproca e de igualdade entre os seres humanos e a natureza é igualmente fundamental para os Maori da Nova Zelândia para quem “Ko au te awa, ko te awa ko au”, ou seja, “Eu sou o rio e o rio sou eu”.
O desafio agora é ver a ciência moderna é, também, parte da ecologia de saberes, na medida em que consegue dialogar, de forma tendencialmente horizontal, com outros conhecimentos, socialmente legítimos, sinal inequívoco das Epistemologias do Sul. Mas, tal como os outros saberes, não detém o estatuto de único saber válido. São vários os autores que têm mostrado a importância das narrativas experienciais, contextuais, espaços de reflexão epistémica e empírica através das quais as relações com e entre as pessoas e a natureza devem ser compreendidas.
Em muitos dos países que se tornam independentes após um forte domínio colonial, um dos principais dilemas enfrentado pelos seus governos tem a ver com a construção das políticas nacionais. Aqui, a nação imaginada, legatária ainda das fronteiras e de vários projetos políticos coloniais, é definida a partir de um ‘nós’ vago, mas necessariamente coletivo, como é o caso de Moçambique, onde a língua portuguesa se transformou numa língua oficial, garante da unidade. Esta realidade encontra equivalentes em grande parte do continente africano onde as línguas herdadas das potências colonizadoras continuam a manter uma grande preponderância na construção e funcionamento dos países, o que dá continuidade à visão homogênea herdada da época colonial. Mas as línguas de origem europeia não permaneceram imutáveis. Para Gregório Firmino, estas línguas adquiriram novos significados simbólicos e aspetos estruturais, elevando-se ao estatuto de variantes linguísticas com valor próprio. Porque a língua portuguesa se mantém uma língua segunda para a maioria dos moçambicanos, o país foi obrigado a repensar o papel das línguas indígenas/nacionais, pois uma parcela importante da sociedade – que inclui lideranças locais, educadores, políticos etc – questionou desde cedo os direitos linguísticos das línguas e culturas que haviam sobrevivido à violência colonial. Membros destas comunidades sociolinguísticas e epistémicas mobilizaram-se para influenciar as políticas linguísticas no país, embora os resultados dessa atuação ainda sejam estejam longe de terem um impacto profundo na transformação epistemológica e educativa. Na realidade, as línguas e culturas coexistem e metamorfoseiam-se em contato e sob influências de outras línguas e culturas africanas. Estas línguas e os saberes que transmitem, ancorados na experiência de vida e luta dos povos e comunidades, não são estáticas; pelo contrário, a sua diversidade e especificidade, nas zonas de contato, suscita a necessidade de traduções entre sabres e práticas, para realizar uma tarefa fundamental: sobreviver e (re)existir.
Este desafio está no cerne da proposta da ecologia de saberes proposta por Boaventura de Sousa Santos, que sustenta que qualquer tipo de conhecimento é incompleto, e que a criação da consciência desta incompletude recíproca (em lugar de completitude) ocorre através de uma escuta profunda de outros saberes. Em suma, o reconhecer de múltiplas ontologias, epistemologias e projetos pedagógicos, constitui a condição prévia para alcançar justiça cognitiva na defesa do planeta enquanto projeto emancipador.
Blog de HCS-Manguinhos – “Ecologia de saberes para ‘adiar o fim do mundo’”. Existe uma fórmula ou propostas que nos inspirem a construir um mundo melhor?
Maria Paula Meneses – As várias pandemias que estão a abalar o nosso mundo são um sinal de alerta para a urgência de desenvolver um quadro de pluralismo e holismo a ser incorporado na forma como pensamos e projetamos o nosso mundo, de modo a que se possa enfrentar cognitivamente as perspectivas de extinção e genocídio. É necessária uma pedagogia da diversidade dialógica para que a democracia seja novamente reinventada à nossa maneira no mundo. É urgente recriar um holismo de saberes que ligue as ciências a estruturas mais amplas de conhecimento, para apreender um significado mais pleno de dignidade.
A vida acadêmica ensinou-me que falar a partir do Sul não é fácil. Pelo contrário, é um grande passo que exige um forte envolvimento com diferentes perspectivas, tradições acadêmicas, associações e movimentos com diferentes compromissos políticos, falando diferentes línguas, utilizando conceitos por vezes intraduzíveis. Não é fácil, mas é a nossa oportunidade de dar voz, de descolonizar o nosso mundo.
Por exemplo, a defesa dos sistemas ambientais está a ser ativada através de instrumentos legais que recorrem ao uso da figura de personalidade jurídica para proteger sistemas ambientais, através da concessão de direitos legais à natureza. Esta medida sinaliza a responsabilidade humana sobre o futuro da terra, e não o seu controle político e econômico. Na essência, os exemplos aqui apresentados revelam um sentido amplo de justiça para adiar o fim do mundo.
Em Aotearoa – Nova Zelândia, fruto de uma luta longa do povo indígena Maori, em 2013 foi alcançada uma decisão histórica: o parque nacional de Te Urewera recebeu “todos os direitos, poderes, deveres e responsabilidades de uma pessoa jurídica”. Em 2017 o rio Whanganui – rio sagrado para os Maori – também foi reconhecido como entidade viva, que deve ser protegida de modo a garantir a continuidade da sua existência plena status de pessoa. Posteriormente o Monte Taranaki – um vulcão adormecido – transformou-se na primeira montanha em Aotearoa – Nova Zelândia obter o estatuto de personalidade legal. No mesmo ano, em contexto latino-americano, o Tribunal Constitucional da Colômbia atribuiu direitos ao rio Atrato, da região de Chocó.
Estes exemplos, entre outros, são fruto de lutas que combinam várias escalas de ação, do local aos movimentos internacionais de defesa dos direitos da natureza. Juntos, procuram desafiar a forma como os sistemas legais de matriz eurocêntrica tratam a natureza enquanto propriedade, tornando outras cosmologias invisíveis para a lei. De forma alternativa, têm recorrido a construções legais modernas, defendendo o direito para alterar o estatuto da natureza enquanto propriedade para a natureza como sujeito de direitos, num esforço para proteger a natureza para bem da humanidade. Estas lutas sociojurídicas constituem um importante reconhecimento de outras epistemologias e ontologias. Estas propostas exibem igualmente a diversidade inesgotável da experiência do mundo, mostrando uma preocupação constante em não desperdiçar a experiência do mundo. O regresso de outras ontologias e o reconhecimento do direito a (re)existir a partir de outras epistemologias é um projeto imenso, que assume a importância de um mundo cheio de sujeitos ativos, cujas vidas silenciadas e conhecimentos ignorados devem ser concebidos como um bem comum. Esta vastidão é o reconhecimento de que a descolonização vai exigir uma mudança na ordem do mundo. O objetivo é transpor o pensamento abismal que insiste na objetificação do “outro”, para um sentido de ser de forma intersubjetiva e relacional.
Como sugere Achille Mebmbe, se quisermos concluir o trabalho de descolonização, temos de derrubar as fronteiras coloniais no nosso continente e fazer de África um vasto espaço de circulação para si própria, para os seus descendentes e para todos os que queiram ligar o seu destino ao nosso continente. Um espaço de libertação utópica, de lutas pela justiça cognitiva e social.
[1] O Sul Global reflete uma constelação de aspirações políticas, ontológicas e epistemológicas cujos saberes são validados pelo sucesso das lutas sociais contra as forças de opressão. É, portanto, um Sul epistemológico e não geográfico, constituído por múltiplas epistemologias produzidas quando e onde essas lutas ocorrem, tanto no Norte geográfico como no Sul geográfico, em diferentes contextos culturais, históricos, políticos e sociais. Como temos vindo a teorizar no CES, é o espaço metafórico da recuperação da humanidade.
Como citar:
‘Ecologia de saberes’ para descoloniza nossas mentes, entrevista com Maria Paula Meneses, por Marina Lemle, Blog de HCS-Manguinhos, publicada em 06 de julho de 2023. Acessível em https://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/ecologia-de-saberes-para-descolonizar-nossas-mentes/